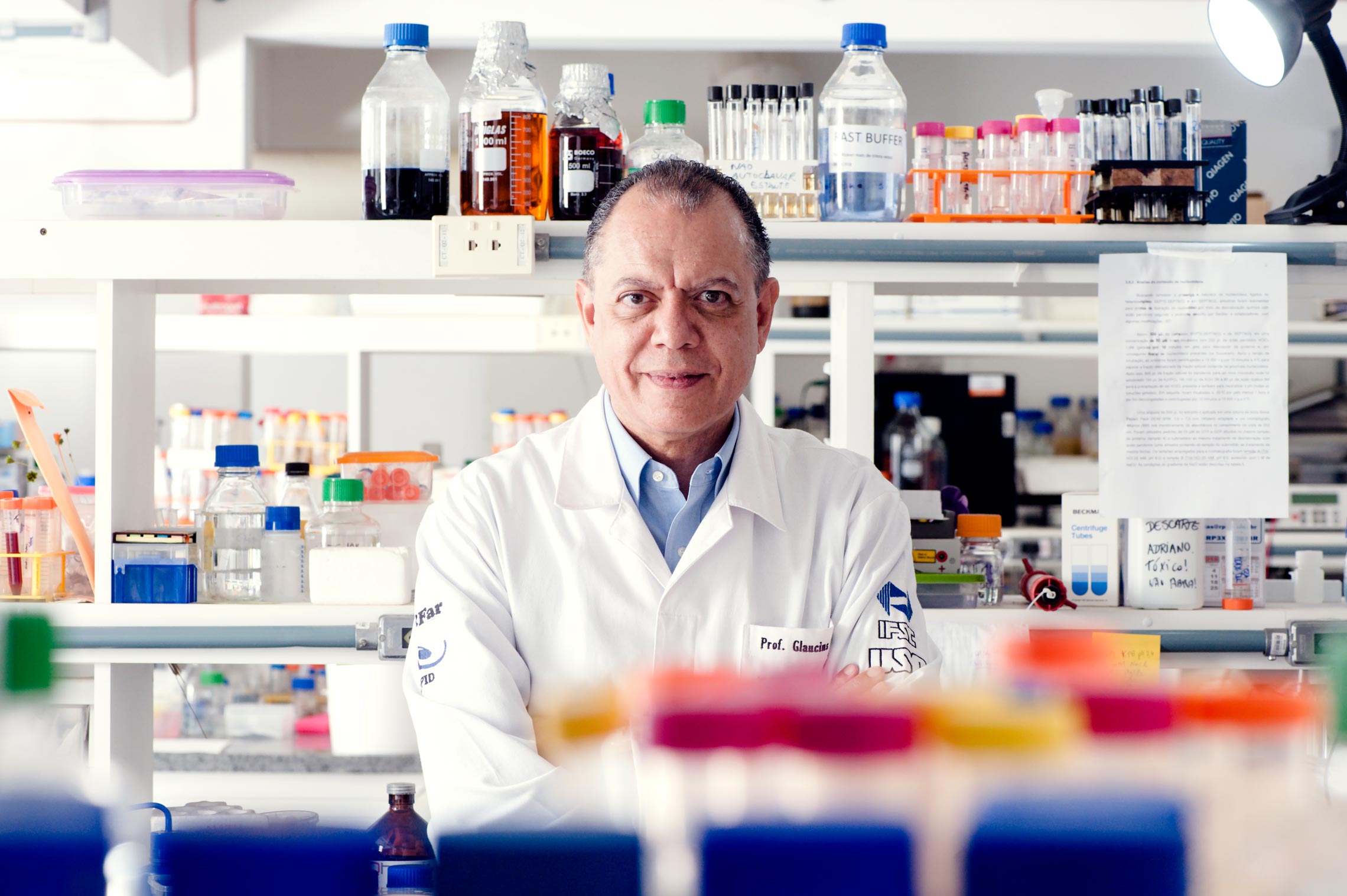A paixão de Glaucius Oliva por domar proteínas para o desenvolvimento de fármacos nasceu na graduação, de um desafio de engenharia: descobrir como unir dezenas de pecinhas de plástico na forma de uma molécula de mioglobina. Foram meses de trabalho para calcular a posição e a orientação exatas de cada átomo e posicioná-los, todos, furando as partes e encaixando-as em arames cortados no comprimento preciso. A partir daí, o estudante de engenharia elétrica sabia o que queria fazer.
Só não sabia que esse interesse científico exigiria também que se dedicasse desde o início da carreira a congregar especialistas em áreas diferentes para trabalhar em conjunto e a convencer agências de fomento e instituições de pesquisa a financiá-los. Glaucius Oliva tornou-se então um destacado gestor, tanto em grandes projetos interdisciplinares como à frente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que presidiu entre 2011 e 2015. Professor no Instituto de Física do campus de São Carlos da Universidade de São Paulo (USP), atualmente dirige o Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacos (CIBFar), um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid) financiados pela FAPESP.
Oliva concedeu esta entrevista em sua sala decorada pelo modelo molecular montado há cerca de 40 anos, em um instituto praticamente vazio às vésperas do Natal. Seu laboratório estava ativo.
Especialidade
Cristalografia, estrutura de proteínas
Instituição
Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo (USP)
Formação
Graduação em engenharia elétrica (1981) e mestrado em física na USP (1983), doutorado em cristalografia de proteínas na Universidade de Londres (1988)
Produção científica
163 artigos científicos
Seu trabalho o pôs em destaque tanto em gestão quanto em pesquisa. Qual é sua principal faceta?
Essas duas coisas são emaranhadas na minha história. Nunca deixei de fazer pesquisa. Mesmo durante cargos de gestão administrativa estive no laboratório, até porque acho péssimo quando o pesquisador vira gestor e esquece sua vida. Em geral a desconexão com sua atividade-fim o distancia das dificuldades, dos problemas, dos desafios. Gestão em ciência e tecnologia significa fazer escolhas diárias de como utilizar os recursos para atingir objetivos.
Também estão entremeadas na coordenação de um centro de pesquisa.
Sim. Sempre coordenei projetos grandes, a começar pela primeira rodada de projetos temáticos financiados pela FAPESP logo depois que terminei o doutorado, em 1988, e voltei da Inglaterra. Conseguimos equipar o laboratório graças a isso. Depois vieram outros projetos em rede, porque nossa área é muito interdisciplinar. Estamos no Instituto de Física, mas precisamos de biologia, computação, química. No começo era fundamental a colaboração com grupos que produzissem as proteínas para estudarmos.
O Cepid ocupa muito esforço de gestão?
Somos 22 pesquisadores principais, além dos alunos, e temos apoio administrativo. Um dos desafios de coordenar um projeto como esse é integrar os pesquisadores. Como são todos bons e independentes, é preciso convencê-los de que vale a pena colaborar uns com os outros. Se cada um continuar fazendo só as suas tarefas, teremos uma boa lista de publicações para o relatório. Mas o foco do CIBFar é fármaco, e o Brasil não tem uma história de inovação nessa área. Precisa ter o biólogo, o biologista estrutural – que estuda a estrutura das moléculas – e o químico. E alguém que esteja olhando o todo, o coordenador. Não entro mais no laboratório para mexer em tubos de ensaio, mas entro todos os dias.
Não existia um lugar em que se pudesse estudar uma substância promissora de forma integrada
Da pesquisa à produção, o que falta?
A indústria farmacêutica nacional está muito bem guarnecida na parte de formulação, de produção. Com a legislação que regulamentou os genéricos, foi necessário aprender a fazer fármacos com qualificação. Agora, o desafio é inovar. Imagine que o fármaco precisa encontrar um receptor para se encaixar de tal maneira que produza determinado efeito, que é ativar ou desativar alguma proteína. Achar uma molécula não é fácil, temos em nosso corpo milhares de proteínas, com milhares de estruturas diferentes. Os efeitos colaterais em geral acontecem quando as moléculas de um fármaco grudam em coisas que encontram pelo caminho. Conseguir domesticar uma molécula que percorra todo o organismo até o alvo é uma arte que ainda envolve tentativa e erro, com síntese de moléculas diferentes.
E cada doença funciona de um jeito?
Com microrganismos é preciso determinar a proteína essencial à sua sobrevivência, de maneira a termos um alvo validado. Muita gente estuda os microrganismos causadores de doenças, a forma como produzem sintomas, se ligam na célula que querem invadir, injetam nela material genético ou proteínas. Sempre trabalhei com doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, mas outros colegas ficaram cuidando disso quando estive no CNPq, entre 2011 e 2015. Quando voltei, foi o momento em que aconteceu a epidemia de zika. Então começamos um projeto em arboviroses, hoje trabalhamos com zika, febre amarela e chikungunya. Algumas décadas atrás o processo era muito experimental e se dava por achados fortuitos. Mudou quando entendemos melhor a biologia das doenças e passamos a estudar a estrutura das proteínas que interagem com elas.
É preciso uma multidão para cobrir a cadeia de conhecimento. Falta gente?
Falta encadeamento. Temos pesquisador que entende de farmacocinética em ratos, outro que faz toxicologia, outros que estudam a biologia fundamental das doenças, que trabalham com estrutura de proteínas ou síntese química. Mas é preciso uma orquestra. Se cada um se preocupar apenas com o seu som, nunca vira uma sinfonia. A ciência brasileira ainda é extremamente disciplinar. Nas universidades, os departamentos são separados. Os cursos de graduação são estanques, não há chance de pegar um aluno que entenda a física para usar raio X e técnicas biofísicas de fluorescência, e ao mesmo tempo saiba o que é uma bactéria, como é a biologia molecular de clonar um gene.

Arquivo pessoal
José Fernando Perez, Francisco Landi (à época diretores da FAPESP), Flávio Fava de Moraes (à época reitor da USP) e Oliva no lançamento do experimento a bordo do Columbia, em 1997Arquivo pessoalO CIBFar é uma evolução do anterior?
Apresentamos a primeira proposta em 1998, na primeira chamada do Cepid. O programa nasceu porque dissemos ao José Fernando Perez, à época diretor científico da FAPESP, que a ciência moderna é multidisciplinar. Percebi isso porque em 1996 estávamos trabalhando com doença de Chagas, um temático que nos permitiu construir uma linha de luz no LNLS [Laboratório Nacional de Luz Síncrotron] para analisar a estrutura de proteínas. Para isso é preciso ter cristais, onde os átomos são ordenados. Mas em um cristal de 1 décimo de milímetro são 1013 moléculas de proteína: 1 seguido de 13 zeros, vários trilhões de moléculas que precisam ser ordenadas, dá certo trabalho. Então conheci em um congresso um bioquímico americano da Universidade do Alabama em Birmingham, Lawrence DeLucas, que era astronauta e trabalhava para a Nasa [agência espacial norte-americana] em um projeto de cristalização de proteínas em microgravidade. Nessa condição é possível obter cristais com mais facilidade, e ele me convidou para fazer um experimento na Estação Espacial Internacional. Foi o primeiro experimento brasileiro realizado no espaço, lançado no ônibus espacial Columbia em 1997. Na volta do lançamento, fui visitar o laboratório em Birmingham, um centro da National Science Foundation [NSF]. Eles tinham centros de pesquisa com esse papel multidisciplinar e meu colega estava à frente de um deles, com biólogos, químicos, pessoal da área de computação, de cristalografia e de fármacos, trabalhando de forma integrada e em interação com empresas. Sugeri que tivéssemos algo parecido e o professor Perez fez uma viagem aos Estados Unidos para visitar centros da NSF. Quando voltou, lançou a chamada. Nosso desafio, no projeto que apresentamos, era criar no país uma massa crítica em estrutura de materiais biológicos. Ninguém produzia proteínas puras no país. Tínhamos 15 biologistas moleculares e biólogos, e dois químicos. Hoje em dia o desafio do fármaco é a química e no centro atual invertemos a equação: temos 15 químicos e dois ou três biologistas estruturais.
E a “biodiversidade”, no nome do CIBFar, entra onde?
Entra como fonte de inspiração de moléculas ativas. O fármaco não pode ser muito polar, porque se for não atravessa membrana nenhuma; não pode ser muito hidrofóbico, senão não é solúvel; não pode ser muito lábil, senão quebra; ao mesmo tempo não pode ser muito grande, senão gruda em outras coisas. Uma planta não corre, não grita, está parada. A única defesa que tem para fungos, insetos, bactérias fitopatogênicas é química. As rotas biossintéticas que fazem essas moléculas foram selecionadas ao longo de bilhões de anos de evolução, foram domesticadas para interagir com outros organismos vivos. A partir delas, é possível fazer modificações para otimizar sua ação e simplificar a química. Depois podemos testar propriedades in vitro, sem precisar de animais. Não existia um lugar em que se pudesse estudar uma substância promissora de forma tão integrada. Isso é o que o CIBFar faz.
Tem resultados que se destacam?
Recentemente encontramos um conjunto de moléculas para combater malária, em um projeto coordenado por meu colega Rafael Guido. A patente ainda está em preparação. São moléculas extremamente potentes, com propriedades farmacocinéticas promissoras, que matam o parasita in vitro e in vivo em experimentos com ratinhos. Despertaram o interesse da GlaxoSmithKline, empresa farmacêutica internacional que nos contatou por intermédio da FAPESP. As moléculas foram transferidas para o centro de desenvolvimento da Glaxo em Tres Cantos, na Espanha, por meio de um convênio, e neste momento passam por testes que não são feitos no Brasil. Outro exemplo descoberto por membros do Cepid na Universidade Federal de São Carlos é uma molécula natural 10-gingerol, extraída do gengibre, que se mostrou eficaz para impedir metástase em câncer de mama. Temos moléculas novas contra a febre amarela, por exemplo, com uma potência muito grande ainda não descrita na literatura. São resultados promissores. Nos seis primeiros anos do Cepid trouxemos pessoas das diferentes áreas para trabalharem juntas. Agora a estrutura está montada e é hora de entregar os resultados.

CIBFar
Modelos complexos de moléculas hoje são gerados por computador; aqui, a proteína GAPDH de Trypanosoma cruzi CIBFarVocês usam luz síncrotron para elucidar a estrutura de proteínas. Agora entra uma nova geração de aceleradores de partículas, com o Sirius. O que muda?
Muda muito. No meu doutorado, em 1987, demorei um fim de semana para coletar um conjunto de dados de difração de raios X para uma proteína e seis meses para processar e analisar as 600 pranchas fotográficas. Hoje, mandamos tanques de nitrogênio líquido com cristais de proteínas para o acelerador Diamond, na Inglaterra. Cada coleta de dados demora cerca de 30 segundos. O Sirius vai permitir aumentar a resolução da difração por raios X, vai mudar o patamar usando cristais muito menores e gerando análises muito mais rápidas do que as alternativas que temos aqui e no mundo.
Você se graduou em engenharia. Imaginava outra trajetória profissional?
Foi uma casualidade. Escolhi engenharia elétrica, mas no final do primeiro ano um professor que me deu aula de física me convidou para ajudar a construir um sistema de vácuo para uns experimentos, nas férias. O professor Sérgio Mascarenhas era o líder do laboratório de biofísica, sempre inspirador, motivador. Fiz como ouvinte sua disciplina de introdução à história da física e adorei. No segundo semestre de 1978, ele tinha voltado da Inglaterra e me mostrou uma caixa com a qual não sabia o que fazer. Era um conjunto de peças representando átomos de uma molécula de mioglobina, mas ele tinha perdido as instruções e me perguntou se eu queria montar o modelo. Levei seis meses e percebi que era aquilo que eu queria fazer.
Como fez para virar físico?
No segundo ano da engenharia, resolvi fazer outro vestibular. Naqueles tempos era possível fazer dois cursos ao mesmo tempo. Os dois eram diurnos, mas eu adaptava. Já estava ultraengajado no laboratório da química Yvonne Mascarenhas e do físico Eduardo Castellano, um argentino que fugiu da repressão em seu país, que fazia difração de raio X em moléculas pequenas. Ninguém fazia estrutura de proteínas no país. Quando terminei a engenharia, um professor livre-docente da física – Aldo Craievich – se transferiu para o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, no Rio de Janeiro. Naquela época, 1981, não existia concurso público para admissão de professor e o conselho departamental decidiu contratar quatro professores para substituir o Craievich como auxiliares de ensino: Vanderlei Bagnato, que coordena outro Cepid e é o diretor do Instituto de Física; José Nelson Onuchic, hoje membro da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos; Carlos Antonio Ruggiero; e eu. O Carlos Antonio e eu ainda não tínhamos diploma. Os outros tinham se formado no ano anterior e foram contratados imediatamente. Por isso, meu contrato com a USP como professor tem a data de 18 de dezembro de 1981, o dia em que colei grau.
Mudamos a graduação no instituto para tirar o aluno da sala de aula e botá-lo para trabalhar
Terminou o curso de física?
No início de 1982 fui fazer a matrícula e me disseram que não podia ser aluno sendo professor do mesmo instituto. Então me matriculei no mestrado, fiz estrutura de moléculas pequenas. Foi a preparação para poder fazer estrutura de proteínas, que era o que eu queria fazer desde sempre, e fui cursar o doutorado na Universidade de Londres, Inglaterra, com Tom Blundell, uma liderança internacional em estrutura de proteínas. Durante quatro anos estudei três proteínas: um peptídeo pequeno, outro médio e uma proteína bem grande associada a doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e amiloidoses. Foi essa que demorei seis meses para fazer coleta e processamento de dados. Para resolver a estrutura foram mais dois anos, me rendeu um artigo em 1994 na Nature.
De volta ao Brasil, como continuou?
Não existia uma estrutura que misturasse laboratórios de preparação de proteínas, de cristalização e de raios X. Quando cheguei, o diretor Oscar Hipólito disse que tinha um laboratório para mim. Era uma sala com uma pia coberta de azulejos brancos. Em geral laboratório de física não tem pia, mas ele pensou que era preciso água para trabalhar com estrutura de proteínas. Não precisa de água para mexer com laser, até atrapalha. Foi um desafio, começamos caçando proteínas nos laboratórios das pessoas. Tudo era muito artesanal e não tinha material adequado para trabalhar. Era preciso ser criativo.
Como foi a eleição para reitor em que foi o mais votado, mas não nomeado?
Em 2006 fui eleito diretor do instituto. Conversando com a reitora Suely Vilella [2005-2009] vi que ela ficava resolvendo problemas do cotidiano – dinheiro, licitação, bandejão dos estudantes –, mas tínhamos problemas fundamentais a serem pensados: para onde a USP ia, como poderíamos repensar a graduação… Não existia uma instância para pensar a USP no médio e longo prazos. Então descobri que no estatuto da USP, de 1988, estava prevista uma comissão de planejamento. Falei com a reitora e no final de 2007 ela nomeou essa comissão, que eu presidi. Marcávamos reuniões que duravam o dia inteiro a cada mês, mais ou menos. Íamos para alguma unidade – Piracicaba, São Carlos, São Paulo – e tínhamos o dia para discutir temas centrais. Trouxemos gente do exterior para falar sobre estrutura departamental e do curso de graduação, se a universidade precisava ser de pesquisa ou de ensino, se todas precisavam ter o mesmo modelo. Gerou até um livro, chamado USP 2034 – Planejando o futuro. Nesse ano, quando chegou a eleição reitoral, percebemos que aquilo precisava se materializar em uma universidade para o futuro e nasceu a ideia de ter um candidato a reitor. Nos primeiros meses de 2009, traduzimos aquilo em um projeto de gestão. Em junho virei candidato, a comunidade da universidade gostou de ter um projeto construído por tanta gente. Fui o mais votado no primeiro e no segundo turno. Mas o então governador José Serra escolheu o Grandino Rodas.
Então veio o CNPq.
Eu era o diretor do Instituto de Física, ainda teria seis meses de mandato, mas ficou desconfortável. O diretor tem assento no Conselho Universitário… Seria ruim para mim e para o Rodas, como reitor. Em 2010 um colega físico do Rio, Carlos Aragão, foi nomeado presidente do CNPq e me convidou para ser diretor. No final daquele ano o Aragão saiu, coincidentemente com a mudança de governo. Dilma Rousseff virou presidente, Aloizio Mercadante ministro, e ele acabou me nomeando presidente da instituição.
Depois de contemplado na primeira chamada dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, INCTs, você viu o programa pelo outro lado. Como o vê?
Tínhamos 120 INCTs financiados desde 2008, estava previsto no edital que deveria haver uma avaliação. Em 2010, e depois em 2013, fizemos eventos de três dias em que os coordenadores de todos os INCTs, às vezes mais uma ou duas pessoas, iam para Brasília. Cada um deles tinha um stand em que precisava mostrar de forma visual o que fazia. Trazíamos gente da cidade, do governo, do congresso para ver o que estava sendo produzido. Vinha um comitê internacional, por volta de 20 pessoas. Organizávamos um simpósio dividido em temas, cada INCT tinha uma hora de apresentação e arguição, e todos os outros da mesma área assistiam. Era ótimo, os INCTs se conheciam, gente externa via o que faziam. O custo-benefício era muito bom.
Permitia pensar de maneira mais ampla?
Sim, mas uma das coisas que mais gostei de ter feito foram as chamadas temáticas. Eu queria transformar o CNPq de uma agência de fomento do Ministério de Ciência e Tecnologia em uma agência de fomento do Estado brasileiro. Os diretores que trabalhavam comigo tinham que ir aos ministérios buscar problemas a serem resolvidos. Nós colocávamos um pouquinho de dinheiro, eles um montão e lançávamos chamadas com temas aplicados. Por exemplo, tecnologias construtivas para o “Minha casa, minha vida”, tecnologias adequadas a pequenas propriedades rurais, saúde – como o problema da dengue. Os ministérios punham dinheiro. Fiz chamadas com a Petrobras para projetos de óleo e gás, com a Vale. As empresas investiam.
O papel era organizar?
Não só isso, o CNPq tem os instrumentos e pode conceder bolsas, por exemplo. A comunidade científica está pronta para resolver as necessidades do país. Somos chamados de alienados que vivem dentro dos muros da universidade, preocupados com o próprio umbigo, com o paper a publicar. Não é assim. Se você solicita, o cientista contribui para a sociedade. Se não for chamado, se concentra no que exigem as agências de fomento.
Como surgiu o Ciências sem Fronteiras?
Quando cheguei ao CNPq, só tinha 500 bolsas no exterior por ano para oferecer. Como vamos viver com uma ciência provinciana desse jeito? Naquele ano o Obama veio visitar o Brasil e mencionou para a Dilma que tinha lançado nos Estados Unidos o programa 100.000 Initiative, em que estimulava as universidades americanas a mandarem 100 mil estudantes para conhecer o mundo. Isso se chama diplomacia da ciência: quando se manda um estudante para o exterior e ele convive com aquela comunidade, cria-se uma rede de gente altamente qualificada que mais tarde acaba gerando valores muito além de educativos. A presidente Dilma resolveu fazer também e propúnhamos que o dominante seriam bolsas de pós-graduação, mas a demanda foi baixíssima. Nossos estudantes estavam em uma zona de conforto exagerada. Se entrou no doutorado, vai sair com o título. Tinha bolsa, emprego no Brasil. Não havia estímulo para sair.
O pessoal da graduação achou ótimo.
Sim. O grande vilão da estrutura da ciência brasileira é a graduação, com esse sistema compartimentalizado em que as disciplinas não falam entre si, os cursos também não. Os cursos de graduação são absolutamente aulísticos. É típico um aluno de engenharia ter 35 ou 40 créditos em um semestre.
Não tem tempo de ser criativo?
Fica sentado vendo o professor, que escreve no quadro. Quando diz que modernizou a aula, é porque trocou a transparência pelo PowerPoint. Eu dizia que precisávamos modernizar a graduação brasileira. Nenhum curso no exterior tem mais de 15 ou 16 horas de aula por semana. O estudante vai para a biblioteca porque tem que entregar relatórios, fazer exames orais, a cobrança é alta. Aqui, a moeda de contratação de professor na universidade é aula. Quanto mais disciplinas, mais professores se pode contratar. No final tem uma carga didática inchada, as pessoas sem envolvimento com criatividade, inovação. O aluno é passivo a graduação inteira e se exige que no primeiro dia depois de formado ele arrume um emprego e vá ser inovador em uma empresa. Não temos inovação nas empresas brasileiras porque os alunos não foram treinados para ser inovadores. Mandando eles para fora, poderiam começar a revolucionar esses cursos contando o que aprenderam lá fora. Foi um programa caro, não tenho dúvidas. Só que levamos 100 mil estudantes para o exterior.
O que dessa experiência você trouxe de volta para a universidade?
Me empenhei, com outros colegas, em mudar o curso de graduação na física. Temos três cursos de graduação no instituto: física tradicional, física computacional e ciências físicas biomoleculares. Eles eram bastante estanques entre si, então unificamos o primeiro ano, reduzimos a carga didática obrigatória a 50% do que é a carga exigida. Os outros 50% os alunos podem construir com atividades optativas de qualquer um desses cursos, mas também de outras unidades do campus. O trabalho de conclusão da iniciação científica conta como crédito na graduação, nosso objetivo é tirar o aluno de dentro da sala de aula e botá-lo para trabalhar. Estamos no segundo ano dessa graduação. Agora estou em uma etapa nova da minha vida, apresentei meu pedido de aposentadoria. Não muda nada: continuo integralmente como professor sênior, com este laboratório e projeto de pesquisa, com meus alunos de pós-graduação, dando aula de graduação. A única coisa que não posso fazer é participar das reuniões de conselho e de congregação.
Nem ser reitor.
Assim as pessoas param de me ligar cada vez que tem uma eleição reitoral me perguntando se vou ser candidato. Honestamente, quero ficar perto das minhas duas netinhas, uma com 1 ano e outra com 5 anos.