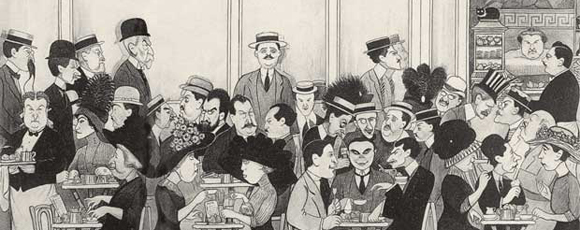 reprodução do livro caricaturistas brasileiros, ed. sextante artesSeduzidos por Capitu, leitores e críticos que há um século debatem sobre Dom Casmurro nem sempre se detêm em outro vértice do triângulo: a relação entre Bentinho e Escobar. Por esse ângulo, o sociólogo Richard Miskolci observa a obra de Machado de Assis, assim como a de outros escritores do final do século XIX, em sua pesquisa O desejo da nação, que tem apoio da FAPESP. Ao usar como fontes não só os discursos literários, como também políticos e científicos, ele pretende combinar reconstituição histórica e análise sociológica para compreender como interesses político-sociais levaram ao controle da sexualidade, notadamente da homossexualidade entre homens brancos da elite.
reprodução do livro caricaturistas brasileiros, ed. sextante artesSeduzidos por Capitu, leitores e críticos que há um século debatem sobre Dom Casmurro nem sempre se detêm em outro vértice do triângulo: a relação entre Bentinho e Escobar. Por esse ângulo, o sociólogo Richard Miskolci observa a obra de Machado de Assis, assim como a de outros escritores do final do século XIX, em sua pesquisa O desejo da nação, que tem apoio da FAPESP. Ao usar como fontes não só os discursos literários, como também políticos e científicos, ele pretende combinar reconstituição histórica e análise sociológica para compreender como interesses político-sociais levaram ao controle da sexualidade, notadamente da homossexualidade entre homens brancos da elite.
Estudos sobre a construção da nação brasileira nesse período quase sempre se concentram nas discussões políticas ou nas relações étnico-raciais. “No Brasil, a experiência da colonização e do escravismo gerou particularidades no que se refere à sexualidade, ao desejo e ao erotismo”, avalia Miskolci, professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), onde coordena o grupo de pesquisa Corpo, Identidades e Subjetivações (www.ufscar.br/cis).
Ao contrário das representações dominantes hoje sobre o Brasil, de permissividade ou liberdade sexual, o pesquisador argumenta que nos caracterizam convenções culturais próprias ainda pouco analisadas. “Identificá-las é um desafio”, explica. “Quero compreender como estamos inseridos em formas específicas de controle e ‘agenciamento’ do desejo e até mesmo qual é nossa gramática erótica própria.”
 reprodução do livro caricaturistas brasileiros, ed. sextante artesO trio de personagens de Dom Casmurro, obra de 1900, ilustra o que Miskolci denomina de “heteronormatividade à brasileira”. Bento só consegue assumir seu papel de marido e pai de família “escorado” em sua amizade-amor por Escobar. “Não se trata da exclusão do homoerotismo. Antes, é sua contenção e disciplinamento dentro de um triângulo amoroso que direciona os homens para relações heterossexuais reprodutivas”, explica. As relações heterossexuais brasileiras, vistas a partir de Dom Casmurro, se fundam, assim, tanto em um vínculo disciplinado, mas profundo, entre dois homens, quanto na relação com a mulher, avalia o pesquisador.
reprodução do livro caricaturistas brasileiros, ed. sextante artesO trio de personagens de Dom Casmurro, obra de 1900, ilustra o que Miskolci denomina de “heteronormatividade à brasileira”. Bento só consegue assumir seu papel de marido e pai de família “escorado” em sua amizade-amor por Escobar. “Não se trata da exclusão do homoerotismo. Antes, é sua contenção e disciplinamento dentro de um triângulo amoroso que direciona os homens para relações heterossexuais reprodutivas”, explica. As relações heterossexuais brasileiras, vistas a partir de Dom Casmurro, se fundam, assim, tanto em um vínculo disciplinado, mas profundo, entre dois homens, quanto na relação com a mulher, avalia o pesquisador.
Sutilezas
Com a leitura de outros romances da época, é possível entrever, segundo Miskolci, outras sutilezas no controle do desejo. No dia a dia do internato revelado em O Ateneu o fantasma a assombrar os homens de elite parece ser – muito mais do que o desejo pelo mesmo sexo – a possibilidade de ser tratado, ou maltratado, como uma mulher. O romance de Raul Pompeia, datado de 1888, mostra, assim, como ocorre o disciplinamento da masculinidade: há práticas “pedagógicas” violentas, combatendo e desqualificando qualquer traço de personalidade que pudesse ser associado ao feminino. Ou seja, mais que a homossexualidade, o que se pretende conter, pelas lentes de O Ateneu, é a existência de “efeminados”. “A relação entre masculinidade, honra e violência, concreta ou simbólica, parece ser uma herança desse período que estudo, pois rege tanto as masculinidades heterossexuais quanto as homossexuais na sociedade brasileira contemporânea”, afirma o professor.
Na sociedade brasileira do final do século XIX também são temidas as relações homossexuais interraciais, como Miskolci observa em Bom crioulo, romance de Adolfo Caminha que provocou escândalo ao ser publicado, em 1895. Em Amaro, um escravo foragido que protagoniza a trama, tem-se a imagem então corrente do homem negro como um predador sexual, perigoso e sem controle. “Há muitos temores e estereótipos sexuais que se mantêm ou se reatualizam em nossos dias”, explica o sociólogo.
Não se trata de traçar uma história dos homossexuais ou da homossexualidade na sociedade brasileira. O pesquisador diz que seu objetivo é contar a história da formação do nosso ideal de nação em uma perspectiva subalterna, ou seja, uma história “dos outros”: excluídos, abjetos, marginalizados por sua sexualidade não normativa. Seu levantamento busca encontrar, nas sombras, os desejos proscritos e impossíveis, os amores silenciados.
Na sociedade atual, o sociólogo observa que gays e lésbicas já são identidades normalizadas, inseridas no mercado e dentro de uma concepção política liberal. O caráter abjeto na sociedade brasileira de agora não seria atribuído a pessoas brancas de classe média ou alta, formando casais monogâmicos querendo se casar – mesmo que sejam casais homossexuais. Como estigmatizados, encontram-se hoje travestis, transexuais, “efeminados”, pobres, negros, portadores de HIV. “Os que permanecem na base da pirâmide da respeitabilidade sexual e social são os que herdaram a abjeção que estudo no final do século retrasado”, diz Miskolci.
 reprodução do livro caricaturistas brasileiros, ed. sextante artesEm Bom crioulo, o pesquisador observa algo que permanece atual: a tendência cultural a desvalorizar o negro como parceiro amoroso para homens. Estudos sobre gays brasileiros como os feitos ou orientados por Júlio Assis Simões, professor do Departamento de Antropologia da USP e pesquisador colaborador do Pagu – Núcleo de Estudos de Gênero da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), têm mostrado como o ideal de parceiro é branco, e o negro tende a ser visto apenas como parceiro sexual ocasional, exótico. Algo diverso se passa entre casais héteros. Como mostra o livro Razão, “cor” e desejo, escrito pela também professora do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo (USP) Laura Moutinho, o racismo brasileiro teve o efeito inesperado de “erotizar” os homens negros, fazendo com que a maioria de nossos casais interraciais héteros seja formada por um homem negro e uma mulher branca.
reprodução do livro caricaturistas brasileiros, ed. sextante artesEm Bom crioulo, o pesquisador observa algo que permanece atual: a tendência cultural a desvalorizar o negro como parceiro amoroso para homens. Estudos sobre gays brasileiros como os feitos ou orientados por Júlio Assis Simões, professor do Departamento de Antropologia da USP e pesquisador colaborador do Pagu – Núcleo de Estudos de Gênero da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), têm mostrado como o ideal de parceiro é branco, e o negro tende a ser visto apenas como parceiro sexual ocasional, exótico. Algo diverso se passa entre casais héteros. Como mostra o livro Razão, “cor” e desejo, escrito pela também professora do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo (USP) Laura Moutinho, o racismo brasileiro teve o efeito inesperado de “erotizar” os homens negros, fazendo com que a maioria de nossos casais interraciais héteros seja formada por um homem negro e uma mulher branca.
Burguesa
Na virada do século XIX para o XX, almejava-se que a nação se tornasse mais branca e burguesa do que era. A sexualidade, segundo Richard Miskolci, se não tinha centralidade até o século XVIII, deve ser vista a partir desse período como peça-chave na reconfiguração de tal imaginário nacional na nascente República. A tríade monarquia, indigenismo simbólico e catolicismo seria substituída por uma nova compreensão, “científica” e “racializada”, do que era a nação brasileira. O desejo e o sexo se tornam questões centrais por causa dos temores sobre relações interraciais e as incertezas sobre as consequências da miscigenação.
A construção da nação exigia o “agenciamento” do desejo para formas ideais, particularmente para a heterossexualidade reprodutiva do casal monogâmico estável. Esse casal era idealizado como branco ou branqueador. Um casal “miscigenador” deveria ser formado por um homem branco – brancura, poder e masculinidade se equivaliam – e uma mulher mulata – pois se rejeitava a mulher negra. “Este ideal unia expectativas com relação à sexualidade e ao desejo, impunha a reprodução como norma e estabelecia que esta deveria resultar em ‘branqueamento’ da população. Devia-se evitar qualquer desvio do desejo que ameaçasse a formação do modelo de casal reprodutivo, ao qual se atribuía a expectativa de gerar a nação almejada, progressivamente cada vez mais branca e sexualmente normalizada”, argumenta o sociólogo.
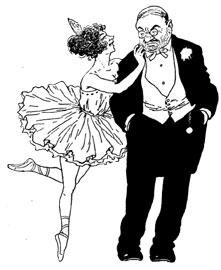 reprodução do livro caricaturistas brasileiros, ed. sextante artesA escolha em focar sua pesquisa nos homens, explica Miskolci, deriva da necessidade de explorar melhor como se reconfiguraram as relações entre eles e as expectativas sociais com relação a seu papel coletivo. De forma sintética, ele diz que aparentemente houve uma progressiva redução da importância da amizade entre homens, que se tornou periférica na comparação com a relação com a esposa e a família, dentro da qual se atendia às expectativas coletivas de reprodução da nação. Os temores com relação aos “desvios” dessa missão masculina de “embranquecimento” encontravam amparo na pedagogização do sexo, que se associava também à psiquiatrização das “perversões”. O controle da sexualidade feminina se baseará em uma hierarquização entre mulheres brancas, mulatas e negras.
reprodução do livro caricaturistas brasileiros, ed. sextante artesA escolha em focar sua pesquisa nos homens, explica Miskolci, deriva da necessidade de explorar melhor como se reconfiguraram as relações entre eles e as expectativas sociais com relação a seu papel coletivo. De forma sintética, ele diz que aparentemente houve uma progressiva redução da importância da amizade entre homens, que se tornou periférica na comparação com a relação com a esposa e a família, dentro da qual se atendia às expectativas coletivas de reprodução da nação. Os temores com relação aos “desvios” dessa missão masculina de “embranquecimento” encontravam amparo na pedagogização do sexo, que se associava também à psiquiatrização das “perversões”. O controle da sexualidade feminina se baseará em uma hierarquização entre mulheres brancas, mulatas e negras.
Na sua interpretação dos desejos da nação, o sociólogo se baseia na obra de Michel Foucault e no campo acadêmico conhecido como Saberes Subalternos – a vertente culturalizada do marxismo que incorporou o pós-estruturalismo francês e se desdobra, hoje, na corrente feminista conhecida como Teoria Queer e nos Estudos Pós-coloniais. Às obras literárias somam-se análises de discursos políticos e científicos da época. Entre os homens de ciência no Brasil, a maioria um misto de literatos-cientistas com ambições políticas, discutia-se qual seria a viabilidade da nação mestiça. “É um tema explorado exaustivamente pelo pensamento social brasileiro no que toca à questão racial, da miscigenação, mas que, fato curioso, deixa de fora as relações não reprodutivas, em especial entre pessoas do mesmo sexo.”
Para o sociólogo, as obras literárias não apenas ilustram a história do período; permitem acessá-la por meio de experiências subjetivas, diferenciadas, algumas vezes até mesmo em desacordo com o que se passava. “Não se trata da genialidade dos escritores, mas da característica da própria criação literária, que frequentemente foge ao controle e às intenções do autor”, afirma Miskolci. Enquanto o discurso político e o científico, mais institucionais e articulados, tendiam a coincidir mais do que a divergir, as expressões literárias da época permitem entrever ambiguidades, dissidências e, sobretudo, tanto o processo de constituição da nação quanto formas diversas de resistência a ele.
Republicar