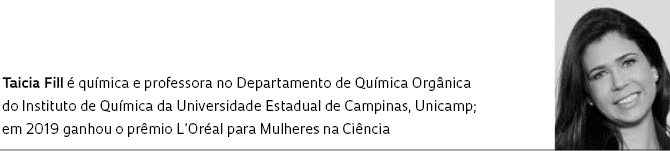Peguei o auge da pandemia duas vezes. No início do ano eu estava no Instituto Leibniz para Pesquisa em Produtos Naturais e Biologia Infecciosa, na Alemanha, como professora visitante. Fui em janeiro e encerraria com uma palestra sobre nosso trabalho, no dia 19 de março, em um congresso em Jena. Vi a Covid-19 chegar na Europa, as pessoas ficando com medo, as coisas sumindo das prateleiras dos supermercados. Foi assustador.
Mas não deixei de ir ao laboratório durante esses dois meses. Considerava-se fechar o Instituto Leibniz, mas isso aconteceu apenas na semana seguinte à minha partida. Eu queria muito voltar ao Brasil, onde as coisas ainda estavam tranquilas. Como o congresso foi cancelado, adiantei minha volta para o dia 14 e peguei um dos últimos voos antes de se fecharem as fronteiras. Foi uma viagem muito tensa, com escala em Paris.
Como eu estava na Europa, era preciso ficar em quarentena, então fui direto do aeroporto para Campinas e nem vi minha família, que mora em São Paulo. Me tranquei em casa, moro sozinha. Pouco depois, fechou tudo no Brasil. Continuei a quarentena, até hoje.
O semestre na Unicamp não parou, então continuamos a ministrar aulas remotamente. Como divido uma disciplina com outra professora, tentamos nos adaptar da melhor maneira para atender os estudantes.
O Instituto de Química [IQ] fechou completamente logo em março. Mesmo assim, em abril perdemos um dos nossos docentes por Covid-19 – o professor Ronei Poppi, do Departamento de Química Analítica. Era uma pessoa querida, competente, ficamos todos muito baqueados. Foi súbito: ele estava ministrando uma disciplina, não teve aula na sexta-feira e no dia seguinte descobrimos que tinha falecido. Era um de nós, ficamos com a sensação de não saber quem voltaria ao fim da pandemia, com quem continuaríamos trabalhando depois. Nos perguntamos: como vai ser esse dia a dia sem as pessoas queridas ao nosso lado? Isso deixou uma cicatriz enorme no instituto, sentimos até hoje. A diretoria tem sido bem rigorosa, e estou de acordo, justamente porque sofremos muito.
Meus alunos estão em casa desde março, todos os trabalhos experimentais parados. Tivemos tempo para escrever os artigos, as teses e dissertações, reanalisar dados. Trabalhamos com metabolismo de fungos e bactérias causadores de doenças que afetam a citricultura na pós-colheita e no campo. Tentamos entender a interação entre patógeno e hospedeiro, usamos ferramentas analíticas para identificar esses metabólitos. Por isso, temos conhecimento químico sobre o metabolismo dos microrganismos – o metaboloma – e das técnicas e ferramentas químicas para estudá-lo, como a espectrometria de massas.
Decidi emprestar esse conhecimento para a força-tarefa da Unicamp contra a Covid-19, sob coordenação de Marcelo Mori, do Instituto de Biologia, e em colaboração com Alessandra Sussulini, também docente do IQ. Nossa colega Ljubica Tasic contribuiu com a parte de estudos metabolômicos por meio da técnica de ressonância magnética nuclear. Nosso intuito era entender um pouco melhor a doença e chegar a uma ferramenta diagnóstica rápida, segura e eficiente.
Assim, acabei indo ao laboratório preparar amostras e fazer análises utilizando espectrometria de massas. Alguns alunos se voluntariaram para ir ao laboratório, mas confesso que fiquei com medo de pô-los em risco. Decidi que eu faria tudo, afinal fui eu que optei por contribuir. Isso dificultou um pouco minha vida, porque enquanto eu estava preparando amostras continuava a escrever pareceres e artigos, a dar aulas, a participar de reuniões. Sou suplente da comissão de graduação e da congregação e também presidente da comissão interna de biossegurança do instituto.
Colhi os dados e passei para os alunos trabalharem. Estamos agora finalizando um artigo que deve ser submetido nos próximos meses. Vimos mudanças no metabolismo, moléculas que variam bastante entre pacientes e pessoas saudáveis.
Fora isso, os trabalhos do nosso grupo pararam. Estávamos, por exemplo, fazendo um experimento em que coletávamos plantas doentes da citricultura a cada 21 dias, em parceria com o Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus). Perdemos um dos pontos da coleta, porque estava tudo fechado devido à pandemia. Nos pontos amostrais seguintes o Fundecitrus guardou as amostras para nós, vamos buscar quando a situação se normalizar. Com esse tipo de interrupção, acabamos perdendo dados e experimentos.
Outro exemplo foi um artigo submetido por um aluno, que voltou com um parecer que exigia experimentos adicionais. Tive de pedir autorização para o Instituto de Química. Como tínhamos um prazo, foi autorizado e fui pessoalmente fazer o experimento. Pedi tempo adicional ao periódico – era para termos ressubmetido o artigo em julho, com os acréscimos, mas ainda não conseguimos finalizar.
Também tive um projeto aprovado por uma chamada do Instituto Serrapilheira, quando já estava em quarentena. Temos uma hipótese sobre o mecanismo que permite à bactéria Candidatus Liberibacter, que causa o greening, infectar a planta e causar a doença. Propusemos, então, algumas moléculas que inibem esse processo para ver se conseguimos frear a doença. Outra parte é o cultivo dessa bactéria, que nunca ninguém conseguiu manter em laboratório – por isso é tão difícil estudar essa doença. Temos uma proposta de como fazer. Como é um projeto totalmente experimental, está muito complicada a questão de prazos e datas, embora o Instituto Serrapilheira compreenda a situação e dê muito apoio.
O edital tem duas fases: na primeira ganhamos um financiamento inicial para executar uma parte do trabalho. Até três pesquisadores, dos 23 selecionados inicialmente, podem chegar à segunda fase, que renderá um financiamento de até R$ 1 milhão. É bastante competitivo, e claro que ajudaria muito e impulsionaria os trabalhos do nosso laboratório e a minha carreira. Vejo que algumas outras universidades já abriram e é desesperador, porque o projeto começou em junho e ainda não consegui estar no laboratório, dedicada a esse projeto de pesquisa. Como nosso trabalho é 100% experimental, isso nos preocupa muito e sentimos o peso do tempo, mas vamos correr atrás do prejuízo.
O Instituto de Química reabriu no dia 19 de outubro com 20% dos docentes e funcionários. Os estudantes de pós-graduação só voltarão, e apenas 25% deles, em uma segunda fase. Alunos de graduação mais adiante ainda. Eu voltarei em novembro, em visitas rápidas ao laboratório, mas acho que este ano não conseguiremos estar no laboratório como equipe.
Estamos parados há oito meses e a produção nos próximos dois anos será bastante prejudicada porque novos dados não têm sido gerados no laboratório. Isso nos faz perder competitividade e provoca ansiedade. Tenho estudantes que vão defender tese ou dissertação em fevereiro ou março e sinto a tensão.
Em 2019 ganhei o prêmio L’Oréal para Mulheres na Ciência, um edital no qual cada pesquisadora se inscreve submetendo um projeto. O júri seleciona os mais inovadores e com potencial e concede uma bolsa-auxílio para usar na pesquisa proposta. No meu caso, acho que chamou a atenção o fato de o Brasil ser o maior produtor e exportador de laranja no mundo. As perdas causadas por microrganismos são gigantes para o país. Encontrar moléculas que substituam agroquímicos sem serem tóxicas, que venham de produtos naturais, teve um apelo grande no cenário em que estávamos vivendo no ano passado, quando o uso de vários agrotóxicos foi liberado pelo governo.
Depois do prêmio, que reconhece mulheres com até sete anos de doutorado, senti ter mais voz diante da comunidade científica. Tenho tentado usá-la para mostrar como as jovens em início de carreira enfrentam dificuldades e como os gargalos de carreira impostos às mulheres cientistas no Brasil não devem impedi-las de seguir em frente.
Na química, o cenário ainda é bastante masculino. As mulheres têm conquistado espaço, mas nas exatas os homens predominam – principalmente nos cargos mais altos. Muitos homens já foram diretores do Instituto de Química da Unicamp. Apenas uma mulher. Já avançamos muito em relação ao que era, mas é preciso continuar para atingir uma equidade completa.
Republicar