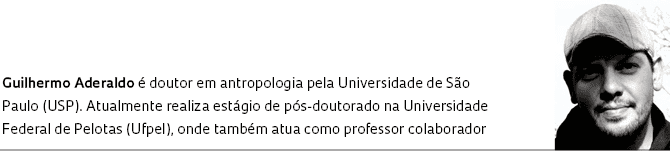“Sou antropólogo dedicado à área de estudos urbanos e, em minhas pesquisas mais recentes, faço o acompanhamento etnográfico de uma trama diversificada de práticas culturais e formas de ação coletiva, protagonizadas por jovens, buscando compreender essas intervenções à luz da reconfiguração nos padrões de segregação urbana, característicos das principais cidades brasileiras desde o início dos anos 2000. Em linhas gerais, as décadas de 1980 e 1990 foram marcadas pelo protagonismo do modelo que a antropóloga Teresa Caldeira nomeou de “cidade de muros”, no qual segmentos mais bem estabelecidos se fechavam nos chamados enclaves fortificados, ou seja, lugares como condomínios e shoppings, assegurando certa distância das populações periféricas e de espaços públicos tidos como degradados. Mudanças surgidas na primeira década dos anos 2000, num cenário inverso ao que vemos hoje, como o aumento do poder de compra do salário mínimo, a relativa democratização das formas de acesso ao ensino superior, a popularização das novas tecnologias de comunicação e o surgimento de uma série de políticas culturais voltadas às minorias e populações subalternizadas, passaram a perturbar esse sistema de diferenciações e as hierarquias que ele conserva. Assim, a dinâmica de consumo, circulação e sociabilidade das camadas menos privilegiadas se alargou e se tornou mais complexa. Fenômenos como os “rolezinhos” e o funk ostentação, por exemplo, são efeitos desse processo, assim como a explosão dos chamados “coletivos culturais” e de outras formas de engajamento e ação coletiva protagonizados, na maioria das vezes, por jovens, escolarizados e informados, ainda que, paradoxalmente, empobrecidos e precarizados por um mercado de trabalho em crise.
Diante dessa reconfiguração socioespacial e do aumento da insegurança econômica e laboral que passou a atingir também as camadas médias, novas ansiedades tomaram conta dos espaços urbanos, incentivando a reorganização dos conflitos característicos de nossas cidades. Essa realidade nos obriga, portanto, a dar um passo atrás no otimismo e a considerar setores profundamente conservadores, que passaram a se organizar de forma mais potente e capilarizada nas ruas e nas redes sociais.
Quando a pandemia nos atingiu, estava refletindo justamente sobre essas transformações. Trabalhava na redação de um artigo, que retomei recentemente, para fazer um balanço retrospectivo das minhas pesquisas, dialogando com a bibliografia contemporânea, dedicada ao exame dessas fraturas sociais e seus efeitos socioespaciais e subjetivos. Além disso, estava animado para iniciar duas disciplinas que ofereceria no Programa de Pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pelotas (Ufpel), onde eu tinha acabado de chegar para realizar estágio de pós-doutorado e atuar como professor colaborador. Outro impacto importante foi a interrupção, antes mesmo de começar, de uma pesquisa de campo que eu tinha programado para fazer com jovens ligados ao movimento hip hop de Pelotas.
Isso me frustrou profundamente. Com a disseminação do vírus e a repentina paralisação de todas as atividades acadêmicas, tive de retornar às pressas para São Paulo para ficar junto da família. Peguei o que era possível e regressei. Naquele momento, não tinha a real dimensão do que estava por vir. Ingenuamente, acreditava que em dois meses, mais ou menos, tudo estaria de volta ao normal.
Os dias iniciais em São Paulo foram improdutivos e desanimadores, agravados pelo profundo clima anti-intelectualista e o evidente descrédito das autoridades políticas de nosso país em relação às instituições científicas e sanitárias. Aos poucos, as estatísticas passaram a se converter em presenças muito concretas e próximas. Colegas se contaminaram, a avó e um tio de minha companheira faleceram e os indicadores ligados aos territórios periféricos onde realizei pesquisas de campo e mantenho vínculos de amizade apontavam para um quadro cada vez mais alarmante. Essa situação escancarou a natureza necropolítica de nossa desigualdade, ou seja, o modo pelo qual o valor da vida é desigualmente distribuído, apoiado na reprodução de preconceitos e estereótipos que naturalizam a morte de uns e não a de outros.
Decidi, então, entrar em contato com todas as pessoas que pude para restabelecer comunicação. Felizmente, ninguém dessa rede mais direta foi gravemente afetado pelo vírus, apesar de muitos terem sofrido consequências econômicas e psicológicas. Com o amigo Daniel Fagundes, interlocutor de minha pesquisa de doutorado sobre comunicação popular e periférica, montamos um grupo de WhatsApp com comunicadores populares de diversas regiões do país. Imediatamente nos demos conta da riqueza dos debates e das produções que seguem sendo desenvolvidas, inclusive sobre os efeitos da pandemia nas áreas periféricas. Esse é o caso, por exemplo, do documentário Pandemia do sistema, da diretora e ativista Naná Prudêncio. A partir dessas iniciativas, criamos um projeto de debates que nomeamos “Vídeo popular, videoativismo e outras imagens não cordiais do Brasil atual”. Nele, discutimos a relação entre a comunicação popular e o combate às mais variadas formas de desigualdade, aprofundadas durante a pandemia. Já fizemos três debates, que estão disponíveis na página da Videoteca Popular, um acervo de produções audiovisuais organizado por Daniel Fagundes no YouTube.
Paralelamente a isso, as reuniões de departamento e os convites para videoconferências se multiplicavam. No primeiro semestre, a Ufpel adotou um calendário alternativo, oferecendo disciplinas optativas. Eu ministrei uma, intitulada Cidades, fronteiras e mobilidades. Nela, discuto as chamadas teorias das mobilidades e sua relação com as formas contemporâneas de desigualdade. Apesar das limitações do ensino remoto, me aproximei dos estudantes e dos dramas que estavam vivendo. Desenvolvi métodos que se revelaram grandes instrumentos pedagógicos, como o uso de podcasts de minha autoria e de audiorresenhas produzidas pelos alunos. Peguei leve nas avaliações e, com o passar do tempo, para a minha grata surpresa, percebi que todos estávamos profundamente engajados. Acabei, assim, tirando importantes lições que pretendo levar para minha vida acadêmica, mesmo quando a situação, de algum modo, se normalizar.
Além disso, organizei com colegas ligados à comissão editorial da revista Tessituras, da Ufpel, um dossiê sobre os efeitos sociais da Covid-19. Nele publicamos reflexões sobre a importância das ciências sociais na luta contra fenômenos aparentemente relacionados com outras áreas disciplinares. Nos esforçamos para evidenciar a relevância da reflexão socioantropológica no enfrentamento de mecanismos que expõem determinados grupos ao sofrimento e à morte.
Em parceria com colegas do Departamento de Antropologia desenvolvemos um podcast de divulgação científica, chamado Antropólis. Nos episódios gravados até agora, discutimos temas como a contribuição dessa área do conhecimento no combate à Covid-19, os desafios de trabalhar em contextos marcados por experiências de guerra civil ou de pesquisar a narrativa de mulheres em ambientes marcados por desigualdades de gênero, entre outros assuntos. O desenvolvimento dessa ferramenta de comunicação era parte do meu plano de trabalho na universidade e, com a pandemia, se transformou em uma iniciativa coletiva, que foi viabilizada por meio da articulação entre dois laboratórios de pesquisa da Ufpel: o Grupo de Estudos Etnográficos Urbanos [Geeur] e o Laboratório de Ensino, Pesquisa e Produção de Antropologia da Imagem e do Som [Leppais]. O engajamento em torno dessas atividades é o que tem me dado força e, mais do que isso, ensinado que há novos caminhos para produzir e divulgar as atividades científicas, não apenas para a comunidade acadêmica, mas para o público em geral.
No cotidiano, tenho me dividido nas tarefas domésticas com minha companheira, que atualmente realiza estágio de pós-doutorado no Núcleo de Estudos de Gênero Pagu, da Universidade Estadual de Campinas [Unicamp]. Como não temos filhos, sobra um pouco mais de tempo e energia para lidar com os afazeres domésticos. Quando um tem mais tarefas profissionais do que o outro, aquele que se encontra mais livre se encarrega dos cuidados principais. Ambos cozinhamos, limpamos a casa e saímos para fazer compras quando necessário. Também buscamos ficar atentos à realidade dos nossos alunos que podem sofrer com o acesso precário à internet, têm filhos e, muitas vezes, precisam trabalhar fora, mesmo durante a pandemia. É preciso ter sensibilidade para lidar com essas questões, por exemplo, na hora de preparar conteúdos pedagógicos. Para que cada um possa seguir o conteúdo conforme suas possibilidades, independentemente de conseguir participar das aulas virtuais, que, no caso da minha disciplina, ocorrem no horário noturno, ofereço podcasts e aulas gravadas.
Em meio a tantos problemas e ao aprofundamento das desigualdades, algumas pequenas coisas positivas surgiram. Desejo que em um prazo não muito longo sirvam para nos ajudar a imaginar outros futuros possíveis. E falar de futuro implica, necessariamente, discutir o tema das juventudes. No contexto atual, aprender a escutar os jovens e a levar a sério o que eles têm a dizer é uma questão de sobrevivência política, social, epistêmica e civilizatória.”
Republicar