Em fevereiro de 2020, quando as notícias sobre a Covid-19 vindas da China começaram a ganhar cada vez mais destaque, eu estava dando aulas presenciais de graduação e pós-graduação na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo [FCM-SCSP]. Na epidemiologia, a gente sabia que não tinha como impedir que um vírus de transmissão respiratória se espalhasse pelo mundo, com a conectividade que existe hoje. Mas foi muito rápido.
Quando a pandemia foi detectada aqui, imediatamente suspendemos as atividades presenciais na faculdade e ainda em março adotamos o ensino remoto emergencial. Foi uma loucura para aprender a manusear as plataformas, fazer questionário on-line, provas e discussões a distância.
Tem sido um desafio e vamos precisar de tempo para mensurar o impacto que isso terá na formação dos alunos. As turmas que tinham aulas presenciais e de repente passaram para o virtual sofreram um impacto, mas talvez menor do que aquelas que entraram na faculdade já no modelo virtual. Para esses alunos é mais difícil, porque nunca se encontraram com os colegas, não conhecem os docentes e nós não os conhecemos. Faço um esforço enorme no ambiente virtual, mas sinto falta do contato com os estudantes.
Dei uma disciplina em fevereiro e março na qual inserimos como temática a Covid-19, mostrando exemplos, discutindo dados. Foi uma maneira de usar a vivência pessoal dos alunos, da pandemia, para o aprendizado. Acho que todas as disciplinas na área da saúde coletiva procuraram fazer isso: discutir os aspectos sociais, os impactos, as desigualdades da doença na população. Quem morre mais, quem é mais afetado, as curvas de crescimento. Observo que, às vezes, o envolvimento dos estudantes não é muito grande. Há um grupo que se interessa e outro que, penso eu, talvez preferisse esquecer um pouco esse assunto.
A pandemia também trouxe um impacto imenso para os projetos de campo do Núcleo de Pesquisa em Direitos Humanos e Saúde LGBT+ [Nudhes], que coordeno. Em um deles, o TransOdara, pausamos todas as atividades presenciais de março a junho de 2020. Nesse projeto, fazemos uma abordagem presencial com mulheres trans e travestis sobre infecções sexualmente transmissíveis como sífilis, gonorreia, clamídia, HPV e HIV. Aproveitamos a presença delas na unidade de saúde para fazer entrevistas, coletar amostras, realizar exames e promover o tratamento e a prevenção. Nossa equipe é composta por médicas, enfermeiras, entrevistadoras, pessoal de laboratório e navegadoras de pares, que são mulheres trans treinadas pelo projeto para facilitar o acompanhamento das participantes na realização dos procedimentos da pesquisa. A equipe toda tem cerca de 40 pessoas nas cinco capitais brasileiras que participam: São Paulo, Salvador, Manaus, Campo Grande e Porto Alegre.
No projeto, também apoiamos a inscrição das participantes nos programas de PrEP [Profilaxia Pré-Exposição], uma combinação de antirretrovirais que previne a infecção por HIV. Para quem tem relação sexual de risco, está em relacionamento com pessoa portadora de HIV ou é profissional do sexo, é uma profilaxia altamente efetiva, mas tem baixíssima adesão da comunidade trans, mesmo que esteja disponível no SUS [Sistema Único de Saúde]. Estamos estudando quais são as barreiras que essas pessoas enfrentam para o seu uso.
Com o primeiro decreto de distanciamento social, em março, paralisamos o trabalho em São Paulo e Salvador e adiamos o início nas demais capitais. Aproveitamos esse período para redesenhar o fluxo do trabalho e instituir protocolos de prevenção da Covid-19. Nas entrevistas, paramos de usar salas pequenas e sem ventilação adequada. Adquirimos máscaras N95, aventais, álcool em gel e tudo o que fosse necessário para a equipe. Também distribuímos máscaras e álcool em gel para todas as participantes.
Nesse mesmo período a equipe de pesquisa ficou em campo no modo virtual e mantivemos uma equipe mínima trabalhando presencialmente para atender quem precisava de tratamento. Também desenvolvemos uma série de vídeos curtos, enviados por WhatsApp ou redes sociais, para saber como estavam as nossas participantes, estimular medidas de proteção como o distanciamento físico e o uso de máscaras. Foi um trabalho intenso reorganizar tudo, inclusive no contato com financiadores, que são o Ministério da Saúde e a Organização Pan-americana da Saúde [Opas], para realocar a verba para a compra do material de proteção individual que não estava previsto e prorrogar a vigência do contrato.
Em São Paulo, retomamos o trabalho presencial em julho, quando as medidas foram relaxadas. Ligávamos para as participantes para perguntar se estariam confortáveis em sair de casa, se moravam com alguém do grupo de maior risco para Covid-19 ou se tinham algum sintoma sugestivo, antes que fossem agendadas para novas visitas. Apesar de todas as dificuldades, conseguimos iniciar o trabalho em todas as capitais. Queremos atingir, no total, uma amostra de 1.280 pessoas – temos cerca de 80% concluídos.
Outro projeto, o Manas por Manas, é concentrado na cidade de São Paulo e busca reduzir o estigma relacionado às pessoas trans, para que possam ter acesso à prevenção e testagem de HIV. O trabalho de campo, que seria iniciado em março de 2020, foi adiado até setembro, quando começamos a formação de 16 navegadoras de pares, todas mulheres transexuais ou travestis. Elas são preparadas para conduzir as reuniões com as participantes, conversar sobre suas experiências e direitos, prevenção às infecções e dar apoio para que façam os exames necessários. Como estamos em uma fase mais restritiva da pandemia, as reuniões voltaram a ser on-line.
Em 2021 começamos o projeto “Eu quero é mais”, focado nas mulheres trans e cis que são profissionais do sexo. Vamos observar o impacto da pandemia na vida delas. O trabalho é parte de uma iniciativa internacional liderada pela Coalition Plus, com sede na França, que pretende avaliar como a pandemia afetou populações vulneráveis em 31 países. Decidimos trabalhar com as profissionais do sexo justamente porque o número de pessoas trans na prostituição ainda é muito alto no Brasil. Temos um grupo mais amplo, com parceria com José Miguel Nieto Olivar, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo [FSP-USP], com Silvana Nascimento, da FFLCH [Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas] da USP, e com Patricia Porchat, da Unesp [Universidade Estadual Paulista] de Bauru. Vamos iniciar a coleta de dados com um questionário que pode ser respondido on-line ou por telefone. A situação das profissionais do sexo durante a pandemia é bem complicada: os clientes não abordam as que estão com máscara, por exemplo, então precisam sair sem a proteção.
Durante a pandemia me juntei a colegas cientistas no Observatório Covid-19 BR. Mesmo sendo conhecida como workaholic, nunca pensei que trabalharia tanto. Trabalho em casa a maior parte do tempo e, quando saio, é para acompanhar atividades das pesquisas ou fazer compras essenciais. Eventualmente visito amigos que também estão isolados.
Minha filha mora na Espanha e não nos encontramos há mais de um ano. Costumo passar o mês de janeiro lá e ela tenta vir ao longo do ano, mas desde o início da pandemia não deu. Meu filho mora em Brasília e em 2020 veio duas vezes me visitar em São Paulo, com sua companheira. Eles se mantêm em home office e fizeram teste de Covid antes de vir, de carro. Faço uma chamada por vídeo com meus filhos toda semana e nos falamos todos os dias pelo WhatsApp. O restante da minha família, os irmãos e sobrinhos, só vejo no ambiente virtual. Sou pernambucana e uma parte deles está no Recife e outra em João Pessoa. Também passei a fazer aulas on-line de yoga e tento manter minha rotina saudável. Sempre me alimentei bem e me exercitei, então continuo com esses cuidados. Mas adoro sair, dançar, ouvir música ao vivo, ir ao cinema. Tudo isso tem feito muita falta.
Faço reuniões on-line com nosso grupo de pesquisa toda semana. Além das questões de trabalho, funciona também como uma forma de nos apoiarmos. É um esforço para não deixar a peteca cair. Sempre digo que, para manter a saúde mental e física, precisamos nos engajar em coisas produtivas. Em alguns projetos temos o acompanhamento de uma psicanalista para a equipe de campo, porque elas lidam com realidades muito difíceis.
Como qualquer cientista, estamos muito cansadas. De dar alertas, antever o que está acontecendo, saber da necessidade de medidas que não são adotadas ou cumpridas. Como sanitarista que viu a construção do SUS e as possibilidades que o sistema tem para lidar com isso, é desanimador ver o desastre que foi a resposta. Acho que talvez essa tenha sido a coisa mais dolorosa, mais difícil, mais irracional…
Essa seria a razão da maior parte das nossas rugas, do mal-estar que isso causa cotidianamente. Há uns dias fui entrevistada por uma rádio de Londres. O locutor me perguntou: você tem esperança que o Brasil melhore? De cara, respondi que não. Mas não é verdade que eu não tenha nenhuma esperança, só não consigo saber de onde ela vem. Com certeza não vem do cenário institucional. Mas tenho esperança nas pessoas, na sua capacidade de resistência, vejo o exemplo das pessoas trans. Acho que a esperança vem daí.
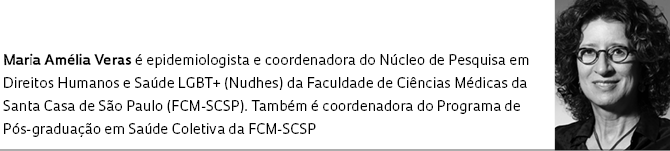
Republicar
