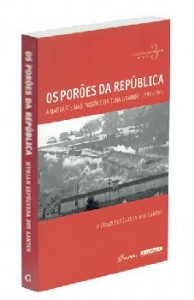Hoje a Ilha Grande, no litoral do Rio de Janeiro, é conhecida pela sua beleza natural, um baluarte defendido por ecologistas e turistas conscientes. Poucos deles, porém, sabem ou querem saber que o paraíso verde foi conhecido, por mais de um século, como o “caldeirão do inferno”, um conjunto de colônias correcionais, prisões e penitenciárias onde os presos eram submetidos a toda espécie de maus-tratos, assassinatos, estupros e toda a forma de violência, justamente pelo fato de que estavam distantes da civilização, isolados, e sujeitos às “leis” dos seus carcereiros. A preocupação com a situação atual do sistema penal brasileiro levou a historiadora Myrian Sepúlveda dos Santos, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a recuperar a história das práticas carcerárias da Ilha Grande.
“Compreender os processos de criação e funcionamento dos cárceres é uma das chaves que nos permitem visualizar estruturas naturalizadas no presente. A volta ao passado nos possibilita refletir melhor não só sobre a falência das instituições penitenciárias como também sobre a capacidade da sociedade brasileira de enganar-se a si própria”, escreve a pesquisadora. Afinal, quando o primeiro estabelecimento penal da Ilha Grande, a Colônia Correcional de Dois Rios, foi instalada na região em 1894 pretendia-se usar a região, paradisíaca, como o projeto modelo de um sistema carcerário “humano”, em que os “presos seriam recuperados a partir do trabalho e da educação”. Nada mais distante do que a lei da realidade: os miseráveis (a quase totalidade dos presos era de estratos pobres da sociedade) eram chicoteados, humilhados, submetidos às mais terríveis condições de higiene, enviados à ilha para morrer, como se pode verificar pelo alto nível de óbitos registrados. Após a chegada de Vargas ao poder, na década de 1930, a Ilha Grande ficou abarrotada de presos políticos, mas dessa vez havia testemunhas que retrataram o que passaram, como Graciliano Ramos, em 1936, em Memórias do cárcere, e Orígenes Lessa, preso em 1932 por ter participado da Revolução Constitucionalista. Durante o Estado Novo, para dar conta do número elevado de novos internos, foram construídas duas novas penitenciárias agrícolas. A arquitetura dos prédios até podia ser renovadora, mas o tratamento continuou pautado pela violência extremada. Há mesmo ofícios relatando presas mulheres que eram destinadas a guardas penitenciários. Longe dos olhos, era possível ficar longe do coração e trabalhar pelas leis da barbárie. As fugas, por exemplo, eram punidas com espancamento até a morte e os militares que saíam em busca dos fugitivos ficaram conhecidos como “cachorrinhos do mato”, para dar uma ideia do seu modo de operação. Ainda hoje boa parte da população da ilha é composta por antigos guardas e seus descendentes.
Em 1960 os presídios passaram para a administração estadual e dois anos mais tarde, por ordem do governador Carlos Lacerda, muitas edificações foram dinamitadas. Durante a ditadura militar foram enviados para a Ilha Grande presos políticos que acabaram obrigados a conviver com antigos “moradores” da prisão, criminosos comuns, como mostrou o filme Quase dois irmãos (2005), de Lúcia Murat. Para muitos, foi dessa reunião que nasceu o crime organizado que tomou conta do Rio de Janeiro. Pela prisão passaram ainda Madame Satã, líderes do Comando Vermelho, Lúcio Flávio e Mariel Mariscot, bem como os bicheiros Natal da Portela e Castor de Andrade. Em 1986, a fuga espetacular de Escadinha, resgatado da prisão por um helicóptero, trouxe novamente destaque para a Ilha Grande, que em 1994 foi enfim desativada. Ainda assim a sua história ainda é das mais atuais e um aviso para se repensar as prisões brasileiras, a despeito da falsa ideia, corrente na sociedade e na mídia, de que a crueldade com os presos é uma vingança justa.
Republicar