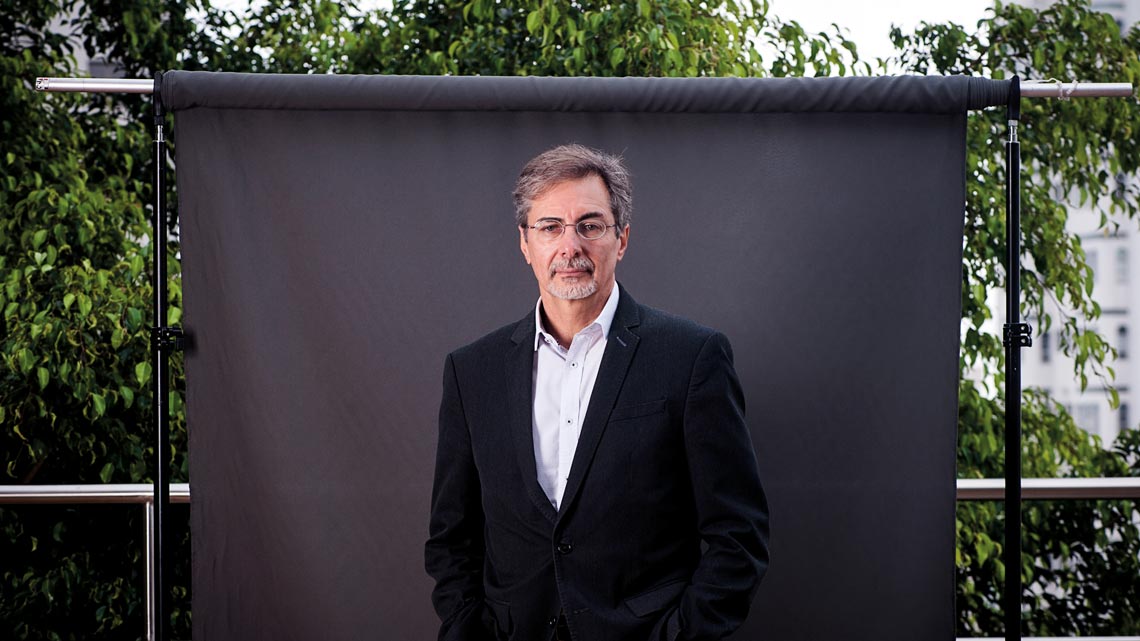Paulo Moutinho tem uma vivência rara de Amazônia: percorreu 1.200 quilômetros (km) da rodovia Transamazônica de bicicleta. Ao longo dessa viagem e outras, foi ameaçado de morte, acolhido, viu miséria e felicidade. Conversou com garimpeiros, agricultores, índios e ribeirinhos, em busca de elementos que permitissem construir uma concepção do desenvolvimento possível e necessário para a região.
Um dos fundadores e pesquisador do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), uma Organização Não Governamental (ONG) fundada em 1995 e voltada para integrar pesquisas científicas às necessidades sociais da região, ele estudou formigas na pós-graduação na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e já foi professor na Universidade Federal do Pará (UFPA).
O ecólogo vive parte do tempo em Brasília, onde o Ipam tem escritório, e parte em Belém, cidade que sedia a organização. Poucos dias depois de conceder esta entrevista, partiu para mais uma viagem de bicicleta, dessa vez atravessando o Cerrado. O objetivo: enxergar as necessidades de quem vive e produz em recantos distantes e mapear possibilidade de rotas cicloturísticas para que habitantes de cidades se aproximem da realidade rural.
Nesta entrevista, concedida em 9 de outubro em São Paulo, ele defende que se reconheça a riqueza da floresta – do ponto de vista econômico – e que se busquem maneiras de combater a desesperança ambiental.
Há dois anos você pedalou 1.200 quilômetros pela Amazônia. Qual foi a motivação para essa viagem? O que aprendeu?
A ideia do pedal foi ter uma experiência no chão, a bicicleta te obriga a parar nos lugares e falar com as pessoas. Percorremos o trecho não asfaltado da Transamazônica ao longo de três semanas, sem nenhum apoio. Um dos ciclistas era Osvaldo Stella, que era cientista no Ipam e 25 anos antes tinha pedalado esse mesmo trecho desde Itaituba, no Pará, até Humaitá, no Amazonas. Quando estávamos organizando a viagem, ele conheceu o norte-americano Chris Cassidy, que era chefe dos astronautas da Nasa [agência espacial norte-americana] e quis participar. Realmente tivemos chance de viver a realidade da região. Esse trecho é uma amostra do uso da terra na Amazônia: muito garimpo, exploração ilegal de madeira, pecuária extensiva de baixa produtividade, terras indígenas, áreas protegidas e, no fim, campos de soja. Há 25 anos, em alguns trechos a Transamazônica era uma picada, praticamente não passavam carros, mas já havia uma forte pressão de desmatamento. Percebemos que hoje a degradação da floresta continua, sem gerar riqueza. Só que essa destruição se acelerou, com mais recursos e tecnologia. O garimpo antes era feito com uma pá e uma peneira; hoje, com retroescavadeiras que custam, cada uma, R$ 3 milhões ou R$ 4 milhões. Não é o caboclo que paga por isso. Tem pistas de pouso para abastecer os garimpos. Os madeireiros ilegais usam imagens de satélite para saber onde está a madeira a ser extraída. O gado continua a ser uma maneira de grilar a terra, com poucas vacas, apenas para ocupar o espaço. Temos uma população extremamente carente que depende da exploração de recursos que se sabe que vão acabar, deixando um rastro de baixa produtividade e devastação. Tudo isso porque o poder público, seja ele local ou nacional, não dá alternativas para o uso econômico da terra.
Seria possível desenvolver a região amazônica e melhorar a renda da população com o mínimo de deterioração da floresta?
A grande saída para a Amazônia é conciliar algumas coisas que atualmente parecem inconciliáveis: usar de forma integrada os recursos da região e os serviços prestados por ela. Por exemplo, é fundamental trazer valor para a floresta em pé que não seja só a madeira ou outros produtos. Que se reconheça, como sociedade e como governo, que a Amazônia tem um valor inestimável para o abastecimento de água para a agricultura do país. Pode haver compensações para que essas pessoas recebam recursos. Ao mesmo tempo, é preciso aumentar a eficiência no campo com uma agricultura mais sustentável, mais produtiva. O terceiro ponto é o gado: é preciso intensificar essa atividade concentrando mais cabeças por área, inclusive para liberar a terra para a agricultura. Hoje existe uma pecuária extensiva ocupando grandes áreas com algumas vacas e investimento muito pequeno, empregando pouca gente. Essa atividade continua sendo uma grande vilã do desmatamento nas áreas privadas. A sociedade brasileira já provou que sabe preservar a floresta e reduzir a sua destruição. Fizemos isso de 2005 a 2012, quando caiu em 80% a taxa de desmatamento. Nesse mesmo período, dobramos a produção de grãos e de carne na Amazônia.

Paulo Moutinho / IpamAo longo de 1.200 quilômetros pedalando sem equipe de apoio, Moutinho e outros dois ciclistas tiveram contato com a realidade localPaulo Moutinho / Ipam
Existe um ponto comum entre o que a população amazônica precisa e os interesses do país?
Do ponto de vista geopolítico, a exploração costuma ser pensada para atender aos interesses da nação, especialmente do Sudeste, e não para desenvolver a região. Pouco fica investido lá, e isso precisa ser alterado.
Como vê a atividade garimpeira na região?
É um problema muito sério, porque tem uma dinâmica completamente diferente: surge em vários pontos como pipoca. Na viagem de bicicleta, um grande problema era não ter água para beber. Os riachos estavam todos contaminados pelo garimpo ou pelo gado. Dependíamos dos moradores ao longo da estrada para pegar água de poço. Os únicos lugares onde conseguimos beber dos riachos foi em parques nacionais e terras indígenas. Também fomos ameaçados de morte por chefes de garimpos. Entrevistamos garimpeiros, é uma vida desgraçada: eles passam 15 dias no garimpo e ganham R$ 4 mil. Depois passam cinco dias em casa, pagam as contas da família e voltam apenas com a roupa e uma trouxinha, que é a rede. Não podem ter coisas, porque são roubadas. Mas acontecem brigas e muitos não voltam. Quando alguém é morto, joga-se em uma vala e ninguém encontra.
É possível conciliar o combate ao desmatamento, os modos de vida tradicionais e o desenvolvimento rural?
Sim, principalmente porque uma coisa depende da outra. A floresta amazônica funciona como um grande ar-condicionado do planeta. Lá está armazenada uma década de emissão global, se você desmatar tudo e jogar todo o gás carbônico na atmosfera, vai agravar enormemente a mudança global do clima. A floresta também funciona como um sistema de irrigação gigante do qual o agronegócio, que tanto se quer expandir, depende enormemente. Sem a floresta não existe a mesma produção que se teria com floresta. Esse problema não é só ambiental, é econômico.
A exploração extrativista de plantas e frutos nativos é uma alternativa?
É viável, se faz em vários lugares. Mas precisa ser integrada a outras atividades, mesmo a agricultura. É possível manter um uso sustentável da floresta – que pode até ser madeira – ao mesmo tempo que se mantém a cobertura florestal funcionando e se aproveitam melhor as áreas já desmatadas, sem derrubar novas árvores. Em um cenário de mudança do clima isso é o Santo Graal econômico e o Brasil tem a chance de fazer essa combinação, ser ao mesmo tempo o prestador do serviço ecológico e o celeiro.
Isso nos põe em vantagem?
Deveria, mas estamos detonando a vantagem. Estamos abrindo mão de um corpo de conhecimento, de um serviço ambiental fundamental em um planeta em aquecimento. É como se houvesse uma biblioteca monstruosa, com as prateleiras repletas de livros até o teto, na qual ninguém teve chance de ler um único deles, e alguém põe fogo. É uma injustiça atroz com a próxima geração, que não lerá esses livros.
O que você nota em termos de efeitos das mudanças climáticas nos últimos 30 anos?
No Parque Indígena do Xingu, vários estudos indicam uma combinação nefasta. A mudança climática global está associada ao fenômeno El Niño, que fica cada vez mais intenso e longo e traz muita seca para a região, potencializada pelo desmatamento. Pela combinação das duas coisas, algumas regiões com muita área desmatada já ficaram mais de 1 grau Celsius [°C] mais quentes. Parece pouco, mas na escala do clima é muita coisa. A diferença da floresta para a área desmatada é entre 6 e 8 °C, em média. O período de chuva encurtou duas semanas. Para plantio de soja é muito relevante, 95% da agricultura do país não é irrigada e depende de chuva. Em 2016 houve grande desmatamento e uma seca forte. Os sojeiros plantaram sete vezes, um custo enorme, e a chuva simplesmente não vinha. Esse é o cenário daqui para a frente se não fizermos nada.
Existem projeções que mostram a porção oriental da Amazônia quase sem floresta no futuro. É possível impedir isso?
Estamos próximos do que chamamos de tipping point. Se isso for ultrapassado, a floresta entra em desequilíbrio: o fogo vai dominar, haverá uma vegetação próxima de um Cerrado muito empobrecido. Se não pararmos de desmatar, uma onda de degradação irá de leste para oeste. As grandes árvores morrem em massa, criando clareiras, o sol seca o interior da floresta e é um prato cheio para o fogo, em geral colocado por alguém. Não é o governo, que é passageiro, que precisa decidir o que fazer com a Amazônia. É o Estado e a sociedade. Ainda temos 80% da floresta em pé, dá tempo. O que explica a dificuldade em tomar uma decisão diferente não é um abismo entre a ciência e a sociedade. Na verdade, a grande falha que existe é entre o contexto rural e o contexto urbano. Cerca de 80% da população – mais, no caso da Amazônia – está nas cidades e perdeu o contato com o contexto rural real. Isso faz com que não se engaje a sociedade para fazer escolhas que abarquem a parte urbana e a rural da região.
Como os povos indígenas podem participar das decisões sobre a Amazônia?
Uma ação necessária é dar oportunidade para coisas inovadoras, como juntar o conhecimento indígena com a ciência do branco, como eles dizem. As terras indígenas são as menos exploradas, menos desmatadas. Ao mesmo tempo, é preciso contribuir para o empoderamento deles em proteger seu território. Por fim, podemos quantificar os benefícios: não é possível manter o processo de irrigação do continente sem as terras indígenas. É preciso haver maneiras de reconhecer isso e integrá-los em um processo de valorização do seu modo de vida, de respeito às suas escolhas.
Significa integrá-los economicamente?
A grande maioria desses povos quer manter seu modo de vida e entende que a floresta é parte dele. O novo mundo econômico dos serviços ambientais é a bioeconomia, como muitos cientistas dizem. Passei vários dias em terras indígenas, aldeias. É um povo feliz, não se vê fome, não se vê tristeza. Quando começa um contato mais radical com quem é de fora, surge um distúrbio grave. Não precisamos abrir terras indígenas para plantar soja enquanto temos 20 a 25 milhões de hectares abandonados, já desmatados.
Que impacto têm essas iniciativas de incluir indígenas nas universidades?
Acho que isso tem impacto, mas insisto em que o campo tem que vir à cidade. Poderia haver programas de talk shows, como um TED indígena, no Museu do Amanhã do Rio de Janeiro, em algum museu de São Paulo, um shopping center, para que se quebre essa distância. Ao mesmo tempo, por meio de bicicletas e outros mecanismos, levar as pessoas para o campo.
Como as florestas públicas deveriam ser manejadas?
São terras do governo, seja estadual ou federal, em um limbo fundiário. O governo não diz para que servem essas áreas. A Lei de Floresta Pública que foi aprovada em 2006 pelo Congresso diz que é preciso manter essas áreas como florestas, e públicas. Mas enquanto o governo não diz se vai ser uma área de preservação, de produção de madeira, uma APA [Área de Proteção Ambiental], um parque nacional ou uma terra indígena, elas ficam nas mãos dos grileiros. O desmatamento tem crescido por meio do roubo do patrimônio de todos nós.
As rodovias são uma destruição necessária? Há outras maneiras de possibilitar à população o acesso a recursos distantes?
As estradas, especialmente as pavimentadas, são grandes caminhos para a devastação: 75% do desmatamento na Amazônia está concentrado em 50 quilômetros para cada lado delas. Mas todo mundo quer estrada. Cansei de ficar dias atolado no meio do mato porque não tinha estrada. O que temos é a concepção de que estradas são construídas de um lugar para outro sem passar pelo meio, como para escoar soja, ou para que o madeireiro tenha acesso a um porto. Ao longo desses caminhos vive gente. Na beira da BR-163, que liga Santarém a Cuiabá, com mil quilômetros de estrada não asfaltada, há vilas com 5 mil pessoas onde não tem polícia, nem saúde, nem prefeitura, ninguém votou na última eleição. A estrada passa ali, mas o Estado não chegou. Algum fazendeiro ou madeireiro manda e a floresta acaba antes que a governança chegue. É preciso inverter o processo. Toda abertura de estrada precisa ser vista como eixo de desenvolvimento econômico, no qual o Estado tem um papel. Ninguém quer estar a 100 ou 150 quilômetros da rodovia principal tendo que andar em picadas. Não tem vicinais, então os pequenos produtores ficam no limbo da subsistência, durante seis meses não conseguem escoar a produção porque chove demais. É preciso pensar no eixo das estradas, ordenar o território para que se tenha uma estrada verde, por exemplo, que preserve processos ecológicos no seu entorno.

Paulo Moutinho / IpamDurante viagem de bicicleta pela Transamazônica, um desafio foi encontrar água potável em riachosPaulo Moutinho / Ipam
Tudo gira em torno das decisões que se precisa tomar?
Não podemos ficar esperando que o governo faça alguma coisa. A redução do desmatamento entre 2005 e 2012 se deu por quatro coisas fundamentais: uma sociedade científica bem organizada provendo informações, engajamento de movimentos sociais, as ONGs fazendo um processo de defesa dos projetos e, além disso, vontade política. Como se substitui vontade política, que agora não temos? O mercado tem que começar a exigir. Não compro de você porque está desmatando ilegalmente, tem escravos na sua fazenda. Esse movimento existe porque os executivos veem riscos para os negócios se a tendência continuar na trajetória em que estamos.
Como está, do ponto de vista mundial, o mercado de créditos de carbono? Tem se revelado uma boa estratégia?
Não é uma panaceia, mas é preciso pensar em compensações futuras para beneficiar aqueles que fazem esforços de conservação. Como foi o Fundo Amazônia, por exemplo, que não envolvia créditos de carbono, mas existia o mecanismo de reconhecer o esforço e compensá-lo. Cada árvore bombeia por dia 500 litros de água para a atmosfera, uma função que só é eficiente se a cobertura florestal se mantiver contínua. É preciso pagar por esse serviço, além de criarmos uma rede de usos da biodiversidade.
O Fundo Amazônia está em apuros. Qual a gravidade disso?
O Fundo Amazônia foi o maior experimento de pagamento por serviços ambientais que já se fez no mundo. Era uma ideia soberana, exclusivamente brasileira, em que países como Noruega e Alemanha resolveram apostar. Isso permitiu estabelecer metas de redução de desmatamento, algo em que não se tinha pensado. Temos metas para educação, inflação, saúde. Mas não tinha para a área ambiental. Sem o fundo, a sensação é de que perdemos uma grande chance de aprimorar mecanismos como de REDD [Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal], de pagamentos por serviços ambientais, em uma escala que pode ser importante nas próximas décadas. O Brasil precisa se preparar para mostrar que é capaz de receber e gerenciar recursos para manter não só a Amazônia, mas também o Cerrado e outras formações importantes. Talvez haja chance de novas rodadas de negociação. Se não der certo, teremos perdido uma importante experiência que poderia alavancar o país como grande negociador de serviços ambientais do futuro.
Conte um pouco sobre as atividades do Ipam.
O Ipam tem dois aspectos de atuação. O primeiro deles é que acreditamos que ciência é fundamental para enfrentar o período de grandes mudanças que já estão ocorrendo. Mas essa ciência precisa estar muito próxima das necessidades da população. Fazemos ciência como nas universidades, mas a pergunta adicional é qual aspecto dessa ciência pode contribuir para alavancar o desenvolvimento sustentável da região para que se permita impedir a destruição florestal, aumentar a produção e a produtividade de alimentos, e proteger direitos. Nossa ciência é orientada por esses três pilares. Desde o início do Ipam, 25 anos atrás, fazemos o que chamamos de pesquisa participativa: os pequenos produtores fazem análise dos resultados de manejo feito nas pequenas propriedades; os pescadores usam monitoramento de rádio em pirarucus para fazer manejo do pescado em lagos de várzea em Santarém. Outra coisa é usar tecnologia científica, especialmente de sensoriamento remoto, para ajudar a proteção de direitos. Desenvolvemos junto com povos indígenas o Alerta Clima Indígena, que pode ser baixado em sistema Android e no qual eles podem monitorar no celular o que acontece nos territórios. As pessoas acham que índio é desconectado, mas muitos têm Facebook, há torres de wi fi nas aldeias. As informações são transmitidas para uma plataforma que se chama Sistema de Observação da Amazônia Indígena, operada junto com eles. Esse tipo de tecnologia permite fazer análises e publicar artigos em revistas científicas, inclusive com autores indígenas. Trata-se de ciência, educação e inovação como alavanca para o desenvolvimento sustentável.
Você começou na Amazônia estudando formigas. Alguma coisa desse pensamento ainda está presente?
Fiz o mestrado na Unicamp usando formigas como bioindicadores de degradação florestal em pequenos fragmentos de florestas que temos em São Paulo. Depois fiz doutorado com formiga-cortadeira, saúva, avaliando o papel delas e de seus ninhos em recuperação de área degradada na Amazônia. As formigas têm um papel em todo o processo de recuperação de um pasto muito degradado, com o solo compactado pelo gado. Mostrei que ao fazer os ninhos, áreas enormes que abrigam 3 milhões de formigas, elas aumentavam a fertilidade do solo e criavam pequenas ilhas de vegetação. As aves e os morcegos vinham e traziam sementes da floresta. Como o solo é mais fofo e fértil, começavam a surgir ilhas de vegetação que cresciam até a floresta ocupar o pasto. Isso não aconteceria se não houvesse florestas próximas. Outra dimensão foi o trabalho de uma aluna que orientei há alguns anos, que viu que quando o fogo entra na floresta às vezes se extingue por si só. Descobrimos que isso está relacionado a grandes ninhos de saúvas, que fazem trilhas, montes de terra e tiram as folhas em torno. Funcionam como aceiros. Existe um balanço: aquilo que as saúvas tiram em termos de folhas, área para fotossíntese, elas devolvem em fertilidade do solo.
O que você considera mais premente na questão climática e ambiental?
Precisamos urgentemente pensar em um novo paradigma da educação. No Ipam temos trabalhado em um projeto que chamamos de cidadania climática. Qual é o cidadão para um planeta em aquecimento – ou aquecido – no futuro? Quais são as habilidades de cidadania que precisamos dar a nossos filhos para enfrentarem o que está por vir? Como eles vão lidar com grandes migrações de pessoas fugindo de secas, algo que já vem acontecendo? A Nova Zelândia está recebendo os moradores do arquipélago de Tuvalu, que está sendo tomado pela água. E quando isso for em uma escala africana, nordestina? Que tipo de educação podemos dar agora para que os tomadores de decisão consigam agir?
E como se pode trazer essas pautas para a educação?
Precisamos começar movimentos de estados, de secretarias da educação, de demanda da sociedade em ter programas-pilotos. Não ter educação voltada para uma cidadania climática significa formar jovens desesperançosos. Meus dois filhos sempre disseram que não querem ter filhos porque não sabem o planeta que deixaremos para eles. A mensagem da cidadania climática é que é um problema sério, mas há esperança se começarmos a mudar.