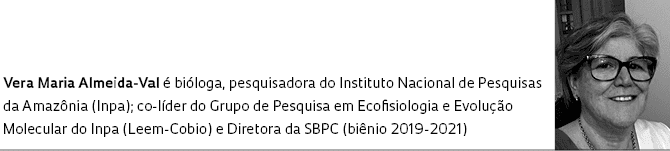Quando a pandemia nem estava declarada, em fevereiro de 2020, tive uma espécie de gripe e tosse que pareceram muito com os sintomas da Covid-19. Fiquei com uma tosse seca e acordava molhada de suor, sinal de febre. Fiz dois ou três testes, que não detectaram anticorpos contra o coronavírus Sars-CoV-2. Mesmo assim, fiquei até o meio do ano achando que tive essa doença.
Quando a epidemia estourou, foi muito impactante para mim. Eu tinha noção do alcance de uma pandemia, sabia que não iria embora tão cedo e que o mundo pararia. O Inpa [Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia] logo fechou até segunda ordem. Foram mantidos os serviços essenciais: os animais vivos dentro dos campi precisam ser alimentados e tratados, por exemplo. Quem faz isso são técnicos e estudantes de pós-graduação.
Meu laboratório é centrado em estudar a adaptação dos peixes a mudanças ambientais. Adquirimos lotes de peixes para o desenvolvimento de dissertações e teses, então os estudantes têm responsabilidade. Fizemos um rodízio: no início, alguns iam quase todos os dias porque tinham experimentos para terminar e perderiam as amostras se não terminassem. Assim, ajudaram os técnicos a cuidar dos peixes.
Nosso modelo principal é o tambaqui, um peixe resistente a muitas mudanças em seu ambiente, com uma resposta fisiológica e bioquímica muito intensa. Para entender os mecanismos fisiológicos, já realizamos muitos estudos com exposição a hipóxia, mudanças de temperatura e com ecotoxicologia em casos de exposição a metais e derivados de petróleo. Os peixes que usamos na pesquisa vêm de criadores. É muito raro precisarmos usar tambaquis advindos da natureza, inclusive porque já é difícil encontrá-los perto das grandes cidades. Também usamos outras espécies, como o acará-açu – também conhecido como oscar, no exterior –, que capturamos na natureza por não serem criadas em cativeiro. Por isso esses peixes são ainda mais preciosos, não queremos contribuir para diminuir o tamanho populacional de nenhuma espécie.
Em maio, a parte experimental da pesquisa estava encerrada e só técnicos e funcionários da limpeza continuaram se revezando no laboratório, duas vezes por semana. No ano passado, o Inpa estendeu o prazo de entrega das teses e dissertações por seis meses. Foi necessário diminuir o trabalho em campo e laboratório e fazer mais revisões bibliográficas. Não podemos pôr estudantes em risco mandando-os a campo junto com pescadores, arriscar que tanto uns quanto outros peguem a Covid-19. Não são condições ideais para estudos em ecologia, ecofisiologia, genética e evolução. Agora, em 2021, o Inpa voltou a estar fechado e precisaremos lutar por mais uma prorrogação. O problema é que, quando acaba a bolsa, os estudantes não têm como continuar. Em 2020 os órgãos de fomento concederam três meses suplementares de bolsa, mas agora não temos ideia do que vai acontecer.
O Inpa chegou a reabrir, no final de 2020. Já íamos entrar na fase 3, quando pessoas acima de 60 anos – como eu – poderiam voltar às salas e laboratórios. Mas não chegou a acontecer e voltamos para a fase 1. Não vou ao instituto desde março.
Nesta segunda onda, que está pior do que a primeira, com o nível de infecção muito alto, eu e meu marido [o também colega Adalberto Val] não estamos saindo de casa para nada. Compramos pela internet, o supermercado entrega ou meu filho traz os produtos. Ele é fisioterapeuta e está na linha de frente em um hospital de referência, então não tem tempo nem quer se aproximar de nós, por cautela. Quando vem, deixa as compras já esterilizadas do lado de fora e saímos para buscar depois de ele ir embora. É uma situação muito difícil.
Emocionalmente, para mim, esta segunda onda não está tão ruim quanto a primeira. Naquele primeiro momento, tive muita ansiedade em não dar conta das atividades: começava a ler e, quando percebia, estava pensando no que estaria acontecendo com minhas irmãs, meus filhos, minhas noras… Precisava então recomeçar a leitura.
Tentamos cobrir as dificuldades fazendo uma reunião semanal com nosso grupo toda sexta à tarde. Suspendemos em janeiro e vamos voltar agora. Na primeira rodada da reunião, cada um diz como está se sentindo. Na segunda, duas pessoas falam sobre seu trabalho por 15 minutos cada uma, e os outros fazem perguntas. Começamos às 16h e terminamos por volta de 18h ou 18h30. É a hora boa de vermos a cara e a expressão deles, mantém a conexão. Sinto muita falta dos meus alunos.
Também nos concentramos na leitura dos artigos e teses que escrevem. Uma aluna de mestrado defendeu sua dissertação no final do ano passado, em meio à pandemia, e também tivemos exames de qualificação. Tudo on-line. Nesse período, achei a quantidade de lives e reuniões exagerada. Eu não tinha condições de dar tantos depoimentos em frente a uma câmera, estimulando as pessoas a ficarem em casa. Não tinha ânimo para nada. Cada vez que tinha reunião de trabalho, eu ficava muito nervosa antes da reunião. Depois entendi que eram crises de ansiedade.
Aos poucos, melhorei e consegui trabalhar melhor. Minha situação não é especialmente difícil, não tenho criança para cuidar. A casa no início deu muito trabalho, mantivemos a secretária na casa dela até que pudemos começar a chamá-la uma vez por semana. Atualmente, vem três vezes por semana só pela parte da manhã. Dividir o trabalho da casa, fazer comida, compras (mesmo que pela internet) gastava um tempo precioso. Não é simples sair instantaneamente da posição de dona de casa para a de pesquisadora.
Também faço parte da diretoria da SBPC [Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência]. Não pudemos fazer a reunião anual presencial, que seria em julho de 2020 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então fizemos atividades mensais: mesas-redondas, discussões, debates para cumprir o programa que já estava pronto e discutir assuntos do momento. Foi na época em que houve a crise ambiental, com queimadas no Pantanal e na Amazônia, então tivemos muita atividade voltada para esse assunto. A opinião dos pesquisadores dessas regiões, como nós, foi muito solicitada. Brigamos muito – e ainda estamos brigando – para que as coisas entrem nos eixos o mais rápido possível.
Não somos treinados para divulgar ciência. Na minha vida inteira, tive um momento importante. Fiz um projeto para o CNPq [Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico], dentro do edital universal, que se chama “Para Ler” – sigla de “Peixes, Ambientes e Rios da Amazônia – Legados Excepcionais da Região”. Nosso grupo inventou uma historinha com uma personagem central que era a Zizi. O pai tinha sido transferido para a Zona Franca de Manaus e a menina se deparou com uma realidade muito diferente da de São Paulo. O pai então deu um aquário com peixes da região e também um peixinho dourado, que ficava distanciado – esse é mesmo um comportamento dele, um peixe da Ásia, quando está com espécies diferentes. A Zizi se identifica e fala com o peixe, até que o ouve responder. Assim ela começa a se integrar à região: em um passeio de barco conhece o tambaqui, em um restaurante fica curiosa com o pirarucu de casaca (um prato da região) e aprende que o pirarucu tem respiração aérea obrigatória e morre afogado se ficar debaixo d’água. E outras curiosidades, que pusemos em cinco volumes.
Aprendi muita coisa, como a necessidade de fazer um roteiro para depois inserir a informação científica na história. Tivemos uma tiragem de mil exemplares, não conseguimos recursos para imprimir mais e distribuir nas escolas como material paradidático. Mas, como as pessoas continuaram a telefonar para o Inpa querendo comprar, a editora do Inpa mandou fazer mais mil exemplares. Agora que tudo foi vendido, está disponível para download no site da editora.
As universidades deveriam se preocupar com divulgação científica visando jovens, adolescentes e crianças, para que percebam que a profissão de cientista é legal e importante. O negacionismo está muito forte, as pessoas acham que a ciência é incompatível com a fé religiosa. Não é preciso brigar para andar junto. Mesmo a Igreja Católica já mostrou aceitação da teoria da evolução. O papa João Paulo II deixou isso claro e, recentemente, o papa Francisco voltou a falar sobre a importância da ciência. É muito ruim que um grupo de fanáticos negue todo o conhecimento já gerado: são contra vacinas, contra medicação e não ouvem argumentos. Essas pessoas têm acesso a escolaridade, informação, livros, mas preferem ir pelo lado mais fácil. Se a ciência tivesse sido mais respeitada em nosso país, não estaríamos na situação em que estamos.
Seria necessário fazer um estudo para entender por que em Manaus temos uma situação tão ruim na pandemia. Já foi demonstrado que esse vírus se espalha por aerossóis, não só pela gotícula de quando a pessoa fala. A floresta gera muitos aerossóis, então acho que essa umidade alta da floresta em volta de Manaus favorece o espalhamento do vírus. Mas isso não é científico, apenas uma hipótese minha.
Alguns de nossos estudantes pegaram a doença, outros perderam familiares. Funcionários faleceram, entre eles um mateiro que era técnico em botânica, chamávamos de parabotânico. Ele não tinha formação universitária, mas tinha mais conhecimento do que muitos pesquisadores. No final de janeiro morreu nosso colega Bazílio Vianez, estudioso de madeiras da Amazônia, e pouco antes o Richard Vogt, maior especialista em tartarugas aquáticas da Amazônia. Há dois anos ele tinha criado um centro de quelônios no Inpa, em uma edificação linda, com criação de animais e laboratório para estudos de tartarugas.
Republicar