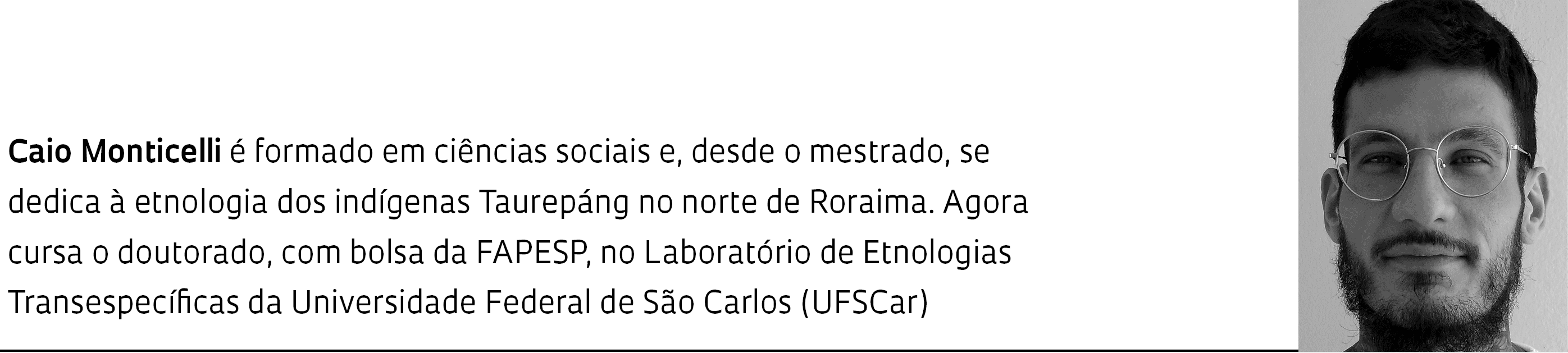Trabalho com os Taurepáng desde a graduação. É um povo indígena pouco conhecido: vivem no norte de Roraima, na fronteira com a Venezuela, e se autoproclamam adventistas, religião com a qual entraram em contato no início do século XX. Creio que o acesso à terra indígena não está prejudicado pela pandemia, porque aqueles que não morreram estão agora vacinados. Houve baixas importantes, entre elas o Lázaro, filho do fundador da aldeia do Bananal, onde está a maior parte desse povo. Era um senhor de 70 e poucos anos, um grande pregador e sempre tinha paciência para me ensinar a língua e discutir assuntos do cotidiano, especialmente sobre feitiçaria, doenças e a relação com os espíritos da floresta, serras e cursos d’água.
A pandemia de Covid-19 parece ter reforçado algo que os Taurepáng praticantes da religião adventista sempre afirmaram: que o fim do mundo se aproxima. Eles veem este mundo em que vivemos como um lugar de morte, de pecado e de vida breve. Agora têm novas referências: a Covid-19, a crise venezuelana desde 2018 e o crescimento exponencial de Pacaraima, uma cidade que fica dentro da terra indígena. Com desmatamento, soterramento de nascentes e trânsito de outras pessoas, a disponibilidade de caça e pesca ficou muito reduzida e eles são obrigados a comprar em Pacaraima o peixe que é a base de sua dieta. Suspeito que todo esse cenário tenha proporcionado a eles uma vida religiosa ainda mais intensa e reforçado a narrativa apocalíptica.
Mais da metade do povo Taurepáng no Brasil, cerca de 450 pessoas, vive na aldeia do Bananal, que fica a 12 quilômetros da Venezuela. É um território tradicional próximo à tríplice fronteira entre Brasil, Guiana e Venezuela, e alguns jovens trabalham com turismo no monte Roraima. No mestrado eu pretendia estudar a introdução dessa outra atividade socioeconômica em uma dinâmica comunitária de agricultores, mas, quando cheguei lá em 2018, encontrei os desdobramentos da crise venezuelana. Fiquei seis meses em campo e vi muita miséria, muita imigração a partir da Venezuela que gerava tensões por causa da atmosfera militar de conflito pelos dois lados da fronteira. Não houve turismo, então tive que reinventar minha questão de pesquisa.
Observei que os cultos ditam o ritmo e a agenda interna da comunidade. Os sermões são todos em língua Taurepáng, que não domino. Aparentemente os cantos não são uma simples tradução dos textos usados pelos brancos, mas não sei ainda que referenciais eles usam para falar do fim do mundo. O único antropólogo a desenvolver pesquisas com eles foi meu orientador, Geraldo Andrello, nos anos 1990.

Arquivo pessoal
Os Taurepáng praticam uma religião fundamentada em profecias do retorno de Jesus Cristo e do apocalipse iminenteArquivo pessoalEm 2020 entrei no doutorado na Universidade Federal de São Carlos [UFSCar], mas não tinha bolsa. Sou bacharel em ciências sociais e não tenho licenciatura, então não podia dar aulas e fui trabalhar em uma doceria em São Carlos, atendendo o público. Mas não era possível fazer bem as disciplinas trabalhando ao mesmo tempo. É preciso estudar muito, exige dedicação total. Com a pandemia, houve corte de funcionários na doceria e, depois de seis meses que me murcharam, voltei para a casa dos meus pais em São Paulo, aos 30 anos.
A chegada da pandemia não afetou diretamente a possibilidade de ir a campo, porque na antropologia é obrigatório concluir as disciplinas para ter embasamento teórico antes de fazer a etnografia em meio ao povo indígena – o estudo de caso localizado. Mas o ano acadêmico atrasou um semestre e eu não sabia se teria bolsa.
Eu continuava falando com os Taurepáng, mas imaginava que talvez perdesse a chance de voltar à aldeia como pesquisador. Eles trabalham na roça de domingo a quinta-feira. Às sextas-feiras, bem cedo, vão a Pacaraima vender sua produção agrícola – mandioca, farinha, laranja e banana – e, quando voltam, à tarde, já começam a se preparar para o culto de sábado, quando se resguardam. Quando estão na cidade, os mais jovens me mandam mensagens por WhatsApp, gravam vídeos e fazem contato pelo Facebook. Se demoro para responder, às vezes, eles já saíram da rede wi-fi e só respondem uma semana depois. Na aldeia há muito mais velhos do que jovens, então com a maioria não tenho falado diretamente, mas pergunto sobre eles.
Quando consegui a bolsa da FAPESP, no início deste ano, foi um alívio: são 48 meses para realizar o trabalho. Voltei a São Carlos para me concentrar nas aulas, que se mantêm inteiramente remotas. Esse sistema deixa muito a desejar. Em condições normais, fico com os olhos a não mais de 1 metro do computador, sentado o dia inteiro. Demorou para os professores perceberem que não é produtivo manter o sistema de aulas expositivas com quatro horas de duração. As pessoas não conseguem absorver. Alguns professores se adaptaram, outros não. Já desenvolvi bursite e tendinite, inflamações no ombro e no punho. Faço as disciplinas, leio os textos, mas ainda não consegui analisar em profundidade a literatura do projeto. Às vezes, me sinto enxugando gelo, mas não posso reclamar: sou bolsista e as coisas estão se encaminhando. É impossível exigir algo de quem não tem bolsa, vejo colegas em uma situação muito difícil.
Já tomei a segunda dose da vacina e pretendo passar o Natal na aldeia para gravar o culto, que já presenciei em 2016, e preparar o terreno para uma estada mais prolongada. O plano é ir por nove meses a partir do meio do ano, quando termino as disciplinas. Moro com dois amigos e não sou casado nem tenho filhos, então será o momento ideal.
Republicar