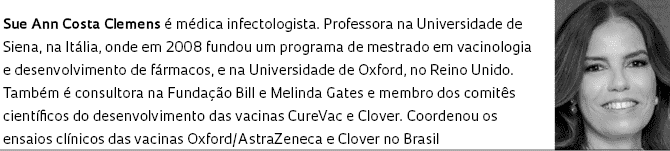Todo início de ano participo de um encontro de investigadores da América Latina da Fundação Bill e Melinda Gates, onde trabalho como consultora coordenando estudos a nível mundial para erradicação da poliomielite. Em fevereiro de 2020, estava nesse percurso: saí da Europa, onde tenho residência em diferentes países, devido ao meu trabalho, e cheguei ao Rio de Janeiro – onde também tenho casa – com intenção de passar duas semanas antes de seguir para a reunião da fundação, no Panamá. Mas a pandemia começou a piorar e cancelamos os simpósios e reuniões. Meu marido, Ralf Clemens, que é alemão e também especialista em vacinas, estava na Coreia do Sul em um encontro do Instituto Internacional de Vacina [fundado pela Organização das Nações Unidas, ONU]. Mas teve uma crise de coluna e veio para o Rio de Janeiro se operar. Foi bom ele ter saído porque a epidemia, naquele momento, estava bem pior na Ásia. Então ficamos aqui, e em março a pandemia foi declarada.
Continuei a trabalhar com reuniões remotas diárias, inclusive em dois projetos de desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19: uma com plataforma de RNA mensageiro pela empresa alemã CureVac e outra à base de proteínas com adjuvante, da chinesa Clover. Tínhamos contato com várias companhias – Pfizer, Sanofi, GSK –, todas em uma corrida pelo desenvolvimento de um possível imunizante. Foi nessa situação que recebi um telefonema do Andrew Pollard [professor da Universidade de Oxford, no Reino Unido, e diretor do Oxford Vaccine Group] me convidando para coordenar a fase 3 do ensaio clínico no Brasil.
Muito rápido, no que chamo de “ritmo Covid”, corri para montar parcerias, conseguir financiamento, qualificar centros com pessoal treinado e infraestrutura. Sou pesquisadora no Crie (Centro de Referência para Imunológicos Especiais), da Unifesp [Universidade Federal de São Paulo], que foi o ponto de partida. Lá eu contava com uma base muito boa, que precisou ser ampliada para acolher o ensaio clínico, sob o comando da professora Lily Weckx. Também peguei centros virgens em outras cidades, que assumi o risco de treinar – no Rio de Janeiro, na Bahia, no Rio Grande do Norte e dois no Rio Grande do Sul. Foi muito estafante, mas gratificante.
Por trás da equipe que tem mais visibilidade em um ensaio clínico – médicos, enfermeiros, recepcionistas – há um exército de outros profissionais. Cada voluntário tem uma ficha clínica extensa que deve ser preenchida; esses dados são depois incluídos no sistema e corrigidos por outros funcionários. É preciso telefonar para cada voluntário ao menos uma vez por semana. Na coordenação, eu tinha que estar atenta a todas essas etapas. Em algumas situações faltava gente e eu assumia, às vezes precisando viajar. Ao mesmo tempo, participava de reuniões constantes para cuidar da parte regulatória na Europa e aqui.
Em quatro meses, recrutamos basicamente o mesmo número de voluntários do que o Reino Unido, mas tínhamos seis centros e eles 20. O plano inicial era conseguir mil pessoas. Esse número foi aumentando, inclusive porque o ensaio na África do Sul não avançou. Chegamos a ver 13 mil voluntários ao todo, dos quais cerca de 10.500 permaneceram no estudo. Isso demandava uma organização grande, nada podia dar errado. Eu tinha reuniões com os investigadores e coordenadores do centro todos os dias entre 11 da noite e 1 da manhã. Conseguimos: começamos o estudo em junho de 2020 e provamos a eficácia da vacina em novembro.
O primeiro registro, no Reino Unido, aconteceu em dezembro. Em janeiro de 2021 o Brasil liberou o uso emergencial, em março já tínhamos o registro completo. Fomos inspecionados por cinco agências regulatórias em nível internacional. Algumas vacinas até hoje não têm registro porque os dados de qualquer pesquisa clínica precisam ser aceitos por agências regulatórias internacionais, com exames laboratoriais das amostras de cada voluntário. Isso deu força e reconhecimento ao time dos diferentes centros e trouxe mais estudos para o Brasil.
Ao mesmo tempo, estávamos verificando os resultados de fase 2 e aperfeiçoando os protocolos para a CureVac, sendo testada na América Latina, e começamos no Brasil os ensaios da Clover. Havia esse movimento inédito de muitas vacinas entrando em ensaio clínico para uma mesma doença e isso precisava funcionar bem para termos alternativas de prevenção contra a Covid-19 e salvar vidas. Por isso aceitei treinar, identificar e capacitar outros centros na América Latina. Me lembrava de pessoas qualificadas, talentosas e que tinham o imediatismo necessário para trabalhar sob estresse, ligava para as empresas onde trabalhavam e pedia que cedessem seus funcionários por quatro meses. E deu certo! Treinamos 22 centros em sete países da América Latina. Ao fim de quatro meses, 21 desses centros já faziam pesquisa sobre Covid-19 para várias companhias. O uso e o impacto foram imediatos em saúde pública e desenvolvimento global.
Nesse período todo fiquei morando no Rio de Janeiro, evitando viagens de avião a todo custo. Não tenho parte de um pulmão, então sentia muito medo de contrair a doença e tive cuidado – até hoje não peguei Covid. Nunca antes eu tinha ido tantas vezes a São Paulo, meu marido dirigiu muito. É uma parceria enorme: trabalhamos juntos nas outras duas vacinas, então as discussões continuam quando vamos para a cama. Mas teve uma hora em que ele viu que o fardo estava muito pesado – na parte física e psicológica – e me ajudou a regular a atividade. Não tinha horário, sábado, domingo. Quase todos os dias eu tinha reuniões que começavam por volta da meia-noite. O que me ajuda é praticar yoga e alongamento. Se não me reservar esse tempo umas duas vezes por semana, sinto dor em todo o corpo e a cabeça não vai bem.
Como consequência do ensaio clínico, a Universidade de Oxford, em sua existência quase milenar, decidiu criar sua primeira unidade fora de Oxford: no Brasil, sob minha responsabilidade. A unidade já tem um braço de pesquisa com vários estudos em andamento no Instituto Carlos Chagas, no Rio de Janeiro, e um braço acadêmico, com cursos que estamos planejando. Fiquei muito honrada e surpresa por receber uma condecoração pela rainha – comandante do Império Britânico – e outra aqui no Brasil, de comendadora. E também pelo reconhecimento público, como na homenagem que recebi no torneio de tênis Rio Open, em fevereiro deste ano, na qual as pessoas se levantaram para aplaudir.
O turbilhão ainda não passou, restam várias questões científicas a responder. Precisamos saber até que ponto as vacinas protegem contra outras cepas, qual proporção das pessoas vacinadas fica doente. Também precisamos saber qual a frequência necessária das doses de reforço dentro de uma situação pandêmica e fora dela, e para quais faixas etárias. Por isso, é muito importante continuar a vigilância e fazer os estudos in vitro das próximas variantes para ver se as vacinas continuarão a proteger. Caso não sejam eficazes, há outras vacinas em desenvolvimento. Participo da elaboração de alguns dos estudos, como das vacinas bivalentes. Existem também as candidatas que visam proteger contra qualquer variante ou tipo de coronavírus.
No ano passado quase não dei aulas na Universidade de Siena, na Itália, e na Universidade de Oxford, no Reino Unido, como costumava fazer. Em Siena, criei o primeiro e único mestrado em vacinologia e desenvolvimento clínico de fármacos. Algumas das aulas que precisava dar, meu marido deu por mim. Mas li as 14 teses dos alunos que se formaram e fiz questão de participar das bancas. Mesmo nessas condições, formamos ótimos profissionais.
Desde o início da pandemia, fui recolhendo uma documentação de fotos que tirava das reuniões on-line com especialistas do mundo todo. Fazia anotações em cada foto para discutir com os alunos e queria fazer uma publicação de caráter técnico e didático. Mas um dia dei uma entrevista ao jornal O Globo que teve muito impacto e a repórter, Audrey Furlanetto, me ligou e disse que uma editora tinha interesse em fazer um livro sobre esse período. Era diferente da publicação que eu imaginava e recusei, não tinha tempo para isso. Mas o editor – Roberto Feith, da Intrínseca – não desistiu. Um dia apareceu no centro de Botafogo, onde eu estava, e tive que aceitar fazer uma reunião. Ele queria um livro que fosse uma mistura da minha vida com o desenvolvimento da vacina. De novo, não aceitei. Não queria envolver aspectos pessoais. Ele insistiu, argumentou que era importante mostrar às pessoas o dia a dia por trás do desenvolvimento das vacinas. Sempre percebi que há uma curiosidade grande em saber como é possível tornar-se cientista. Ele me convenceu depois de um mês de insistência. Em outubro lançamos História de uma vacina – O relato da cientista que liderou os testes da vacina Oxford/AstraZeneca no Brasil. Descobri que fez diferença para as pessoas que estavam trabalhando ter sua participação destacada e explicada. A maior parte dos meus centros é liderada por mulheres, era preciso mostrar isso também.
Republicar