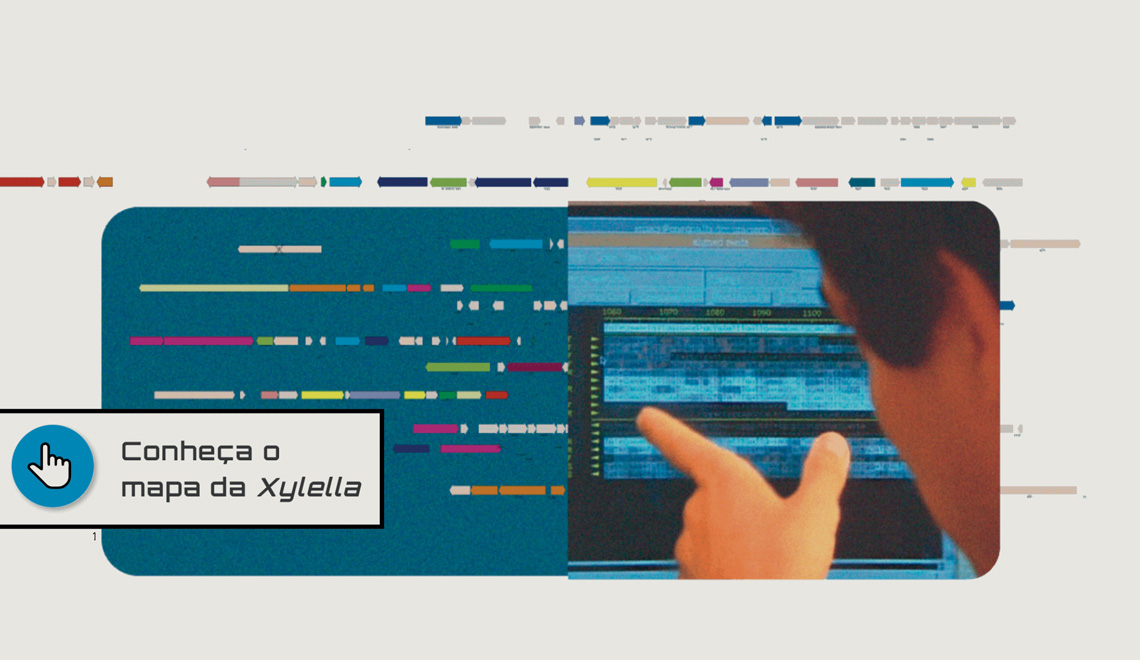A Academia Brasileira de Ciências (ABC), sediada no Rio de Janeiro, anunciou em maio um centro de memória, que deverá organizar, preservar e divulgar sua história, iniciada oficialmente em 1916. Faculdades ou institutos das universidades de São Paulo (USP), estadual de Campinas (Unicamp), federal de Minas Gerais (UFMG) e outras já têm os seus. Muitos órgãos públicos e empresas também. Motivados pela constatação da falta de organização de informações históricas ou pela demanda externa – impulsionada principalmente pela Lei de Acesso à Informação, de 2011 –, os centros de memória são mais amplos que os centros de documentação, por serem híbridos e acolherem vários tipos de documentos e objetos. Sua concretização geralmente é repleta de emoções – nem sempre de contentamento, como quando os organizadores encontram documentos em péssimas condições ou não acham o que desejavam. Mas há também descobertas inesperadas, que aprofundam a história institucional e trazem à tona tópicos que merecem ser mais bem pesquisados.
O site do Centro de Memória FAPESP foi lançado em maio, com 43 mil registros documentais, principalmente reportagens, vídeos e podcasts publicados desde 1995 pela revista Pesquisa FAPESP (até 1999, Notícias FAPESP) e desde 2004 pela Agência FAPESP. Com o propósito de registrar a memória oral da ciência paulista, foram feitas e já estão on-line 20 entrevistas com pesquisadores e dirigentes da FAPESP, realizadas especialmente para o centro.
“A ideia de criar um Centro de Memória surgiu durante as comemorações dos 60 anos da FAPESP, em 2022”, comentou Marco Antonio Zago, presidente da Fundação, à Agência FAPESP. “A intenção é deixar um legado para as futuras gerações, registrando os esforços de uma agência de fomento e da comunidade de pesquisa paulista para promover o desenvolvimento do estado com base na ciência, na tecnologia e na inovação.”

Paraguassú ÉleresRaridades do acervo: desenho da estrutura de madeira do barco construído em 1967 e usado pelo zoólogo Paulo Vanzolini (na canoa, em primeiro plano) em viagens pela AmazôniaParaguassú Éleres
A bibliotecária Fabiana Andrade Pereira, coordenadora do centro, encontrou – e continuamente inclui no site – documentos até então dispersos sobre a criação, em 1960, e a efetiva institucionalização, dois anos depois, da Fundação. Os documentos já incorporados no acervo on-line incluem registros no Diário Oficial do Estado dos debates de outubro de 1947 na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), quando o sociólogo e historiador Caio Prado Jr. (1907-1990), então deputado constituinte, defendeu a regulamentação de um artigo da Constituição estadual, promulgada três meses antes, propondo a criação de uma fundação de apoio à pesquisa científica no estado de São Paulo.
Também já podem ser consultados pelo site os artigos do final dos anos 1940 e início de 1950 da revista Ciência e Cultura, publicada pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), defendendo a concretização da nova instituição. No início da década de 1950, os jornais Folha da Manhã – do qual se originou a Folha de S.Paulo – e O Estado de S. Paulo, por sua vez, publicaram artigos que defendiam ou criticavam a necessidade da fundação para financiar pesquisas no estado. “Conseguimos ver a história se formando”, observa Pereira.
Outro documento redescoberto foi o parecer em que o jurista e professor da USP Miguel Reale (1910-2006) sugeria, em 1962, que a fundação deveria ser “uma pessoa jurídica de direito público, embora de tipo ou modelo privado, não sujeita às normas do Código Civil, mas sim à lei e aos regulamentos baixados pelo estado”.

ReproduçãoCapa da Nature de 13 de julho de 2000 com o sequenciamento do genoma da bactéria Xylella fastidiosa, realizado por equipes de pesquisadores do estado de São PauloReprodução
O trabalho em andamento inclui a busca e inclusão no site de documentos apenas citados em livros sobre a Fundação, vários deles escritos pelas equipes dos historiadores Shozo Motoyama (1940-2021) e Amélia Hamburger (1932-2011). Pereira e o historiador Thiago Montanari, assessor do centro, estão procurando registros históricos sobre a Fundação em outras instituições, como a própria Alesp, a Imprensa Oficial, em universidades paulistas e na Biblioteca Nacional.
Para atingir outros públicos, além dos pesquisadores, o Centro de Memória lançou uma exposição sobre o Programa Genoma FAPESP, iniciado em 1997, com textos, fotos e entrevistas com o então diretor científico, José Fernando Perez, e Andrew Simpson, Fernando Reinach, João Paulo Setúbal e outros pesquisadores à frente do trabalho.
Durante um ano, o projeto do centro contou com a participação da historiadora Ana Maria de Almeida Camargo (1945-2023), especialista na organização de arquivos institucionais e primeira autora do livro Centros de memória: Uma proposta de definição (Sesc, 2015) (ver Pesquisa FAPESP no 333). A equipe formulou um documento com as diretrizes e os objetivos do centro e, em seguida, Pereira e Montanari percorreram todos os setores da instituição, explicando o que pretendiam fazer e perguntando se por ali não haveria documentos de valor histórico.
Sem esquecer o presente
Ao ser convidada para integrar a equipe, a historiadora Silvana Goulart, diretora da Grifo, empresa de desenvolvimento de projetos históricos, ficou impressionada: habituada a ver documentos malcuidados e desorganizados em instituições públicas e empresas, encontrou uma vasta documentação já organizada – livros, relatórios anuais desde 1962 e materiais audiovisuais. A prioridade foi então propor formas para tornar o acervo mais acessível. “Não podemos esquecer o presente”, ressalta o historiador Raphael Novaes, gerente de Projetos da Grifo. “Quem precisar de algum documento do acervo tem de encontrar rapidamente.” Goulart sugere: “Temos de avaliar com cuidado o que guardar”, diz.
A historiadora Aline Lopes de Lacerda, integrante da coordenação executiva da política de memória institucional da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), concorda: “Não precisa guardar tudo, mas não é simples escolher o que é importante. Se um trabalho motivou vários documentos, pode-se guardar apenas o final, algum intermediário ou uma síntese do que foi feito”.

ReproduçãoPágina de abertura da exposição virtual sobre os trabalhadores técnicos da Fiocruz e início do documentário sobre Sonia e Zilton Andrade, da BahiaReprodução
Ela recomenda a coleta de informações sobre objetos ou aparelhos enquanto são usados. Quando começou a pandemia, a equipe de museologia da Casa de Oswaldo Cruz (COC), uma das unidades da Fiocruz, já preocupada em registrar também o presente, coletou os primeiros galões com a vacina contra Covid-19 e, depois, os frascos das vacinas e dos kits diagnósticos produzidos em outra unidade, a BioManguinhos. “Pela primeira vez, elaboramos uma pequena coleção de um trabalho contemporâneo, que de alguma forma deveria ser preservado”, comenta a historiadora Inês Nogueira, do serviço de museologia do Museu da Vida, ligado à COC. “A decisão sobre o que guardar deve resultar de um pacto institucional, não de ações pessoais ou arbitrárias, para preservar a memória das pessoas que trabalharam em um momento histórico.”
A Fiocruz publicou em 2020 uma política de memória institucional com orientações para as equipes de suas 22 unidades identificar, organizar e gerenciar documentos de valor histórico ou científico. No ano seguinte, publicou uma chamada de projetos históricos. Uma das propostas selecionadas, a cargo da assistente social Renata Reis Cornelio Batistella, abordou a biografia de trabalhadores técnicos da Fiocruz. Em outro, a socióloga Ulla Macedo Romeu fez um filme sobre dois pesquisadores do Instituto Gonçalo Moniz, da Bahia, os médicos Zilton Andrade (1924-2020) e Sonia Andrade (1928-2022), especialistas em esquistossomose e doença de Chagas.
A próxima etapa será a formação de núcleos de memória nas unidades da Fiocruz, com bibliotecários, jornalistas e arquivistas que possam identificar os documentos capazes de enriquecer a memória institucional. “Uma espátula ou recipientes de vidro podem ser importantes para representar o modo de produção da ciência de uma época”, orienta Lacerda. “Muitas vezes documentos ou objetos de valor histórico passam décadas escondidos.”

Acervo do Arquivo Nacional / Wikimedia Commons | ReproduçãoJuliano Moreira, segundo presidente e um dos raros negros integrantes da Academia Brasileira de Ciências, retratada em livro publicado em 2017Acervo do Arquivo Nacional / Wikimedia Commons | Reprodução
Em janeiro deste ano, logo após ingressar na equipe de curadoria dos documentos do Centro de Memória da ABC, o historiador Paulo Cruz Terra, coordenador do Laboratório de História Oral e Imagem (Labhoi) da Universidade Federal Fluminense (UFF), entrou na sala em que estavam as caixas com os documentos que guardavam a história da instituição: “Quando vi, quase caí para trás. Era o caos. Não havia catálogo de quase nada”. Em outra sala, ele respirou aliviado ao encontrar, já organizados, os livros contábeis, as atas das reuniões e as pastas pessoais de boa parte dos 974 membros titulares ou afiliados. Algumas pastas contêm diários, históricos escolares e outros documentos doados pelas famílias.
No livro Arquivos pessoais: Experiências, reflexões, perspectivas (Associação de Arquivistas de São Paulo, 2017), o historiador José Francisco Guelfi Campos, da UFMG, e a documentalista Lílian Miranda Bezerra, da USP, comentam que os arquivos pessoais poderiam ser mais explorados, por também refletirem atividades institucionais.
Especialistas do Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos em Papel do Museu de Astronomia e Ciências Afins (Lapel/Mast) cuidarão da higienização, digitalização e guarda dos documentos do Centro de Memória da ABC. “Certamente, deveremos descobrir mais coisas do que pensamos”, anima-se Terra.
Uma das frentes de pesquisa, com a bióloga da UFRJ Débora Foguel, já mostrou a baixa participação de mulheres na ABC – apenas 14%, desde a fundação. A matemática e engenheira Marília Chaves Peixoto (1921-1961) foi a primeira mulher eleita para a ABC, em 1951, e Helena Nader foi a primeira a se tornar presidente, somente em 2022. O número de negros ainda não foi identificado, mas não deve chegar a uma dezena, ainda que o segundo presidente tenha sido Juliano Moreira (1873-1933), psiquiatra negro baiano (ver Pesquisa FAPESP nº 124).
Com base em sua experiência, Terra assumiu a coordenação do Centro de Memória Trans do Brasil Jovanna Baby, ligado à UFF. O objetivo é reunir, organizar e divulgar documentos sobre o movimento trans e travesti no Brasil.
A reportagem acima foi publicada com o título “Desempoeirando o passado” na edição impressa nº 342, de agosto de 2024.
Artigo científico
REIS, R. Lembrar, reconhecer, reverenciar: lugares de memória para os trabalhadores técnicos da Fiocruz. História, Ciências, Saúde – Manguinhos. v.30, supl.2, e2023071. 2023.
Livros
CAMARGO, Ana Maria e GOULART, Silvana. Centros de Memória: Uma proposta de definição. São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2015.
CAMPOS, J. F. G. e BEZERRA, L. M. “Arquivos pessoais e a memória das instituições: O caso da Universidade de São Paulo”. In: CAMPOS, J. F. G. (org.). Arquivos pessoais: experiências, reflexões, perspectivas. 1ª ed. São Paulo: Associação de Arquivistas de São Paulo, 2017, v. 1, p. 62-75.